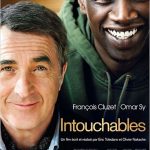Se há um centenário de nascimento que me emociona é o de Luiz Gonzaga, a mim, que guardo esta historinha com o rei do baião, embora não tenha sido eu coadjuvante no sentido exato do termo.
Das lembranças mais alegres da minha infância, guardo a da festa de aniversário de cinco anos de meu irmão, Francisco. De presente, ele ganhou um carro grande, em que podia entrar e pegar o volante, apertar o pedal e tudo, que, naquele tempo, não era de plástico, mas de alumínio. Sentado no banco único, ele testava o brinquedo que, em 1957, no interior do Ceará, era um luxo: verde musgo, com uma estrela no capô, carro de herói em guerra, que meu irmão dirigia ao som do baião Que nem jiló, de 1950. No ritmo trepidante do fole de Luiz Gonzaga, na gravação da RCA Victor, que lançaria quase a sua obra inteira, a gente nem se dava conta da saudade que pungia nos versos de Humberto Teixeira, autor da letra. Não sei explicar, mas a verdade é que não se conhecia jiló na região, e de saudade, eu, aos dez anos de idade, ainda não entendia nada. Mas não importava; o ritmo do baião era tudo, ou quase tudo: era a alegria nos acordes simples, nas estruturas repetitivas. Além disso, a canção tinha um fecho de esperança: Mas ninguém pode dizer que me viu triste a chorar/ Saudade, o meu remédio é cantar. Era esse cantar, no som prolongado da melodia, que entrava nos nossos corações de criança.
Naquela noite, meu irmão aprumava (ou desaprumava) o carro e ensaiava curvas temerárias na varanda lateral da casa. Na sala, a Tetezinha, afilhada de meus pais que ajudou minha mãe a criar os quatro filhos, permanecia ao lado da grande caixa vermelha, espécie de estojo onde era guardada a vitrola, ainda de corda, já que só tínhamos luz por pouco mais de duas horas: era ligada às sete e desligada às nove e meia da noite. Sentada no chão, pés descalços, largos, portinarianos, que o vestido deixava à vista, ela abria a tampa da caixa, de onde saía o som, encaixava a manivela, que a gente chamava braço, e não por acaso escolhia o 78 rotações Baião, parceria de Luiz Gonzaga com Humberto Teixeira, para abrir a festa. Naquele microcosmo familiar de Mombaça, onde nasci, no sertão central do estado, a canção conservava o marco inovador que lhe era inerente desde 1946, quando foi gravada pelo conjunto Quatro Ases e um Coringa e arrebatou o país. Só em 1949 Luiz Gonzaga gravaria a sua versão. De um jeito ou de outro, o novo ritmo não só assentou na alma nordestina, de onde se originava, como tomou o Brasil de ponta a ponta e entrou até mesmo no high society do sudeste, nos cassinos, indistintamente, ao lado de Nat King Cole e as big bands. Entrou para mudar definitivamente a história da música popular brasileira, na qual passou a constituir gênero dos mais prestigiados.
Está claro que não sabíamos nada disso. O que sabíamos era que na festa não podia faltar Asa branca, com o mesmo selo da RCA Victor que temos aqui no IMS, na biblioteca José Ramos Tinhorão.
E quando a voz do cantor começava a derrapar em Espero a chuva caiiir de noovooo, descaracterizando a melodia, a Tetezinha rapidamente agarrava o braço da vitrola e dava corda com vigor. Era a DJ da festa e fã absoluta do Gonzagão.
Tetezinha foi das pessoas mais elegantes que conheci. Elegância franciscana, que é a legítima. Falava pouco e baixo, movia-se devagar, fazia-se respeitar pela nobreza de caráter e de gestos. Quando dizia “hum, hum!”, que significava “não”, nenhum de nós ousava desobedecer. Nunca foi à escola, minha mãe ensinou-lhe a ler e escrever. Adulta, tinha dois cadernos: o de receitas e o das letras das canções de Luiz Gonzaga, copiadas com a letrinha limpa e bem desenhada.
Muito justo que viesse a ser anfitriã do compositor, o que aconteceria em 1966, quando eu já era aluna da Faculdade de Letras, em Fortaleza, e a vitrola da casa sertaneja tinha sido substituída por uma radiola, toca-discos elétrico, o fino! Desde o final da década de 1950, com o advento da bossa-nova, e depois da jovem guarda, a extraordinária popularidade de Luiz Gonzaga começara a entrar em declínio. Os dez anos de glória do baião, de 1946 a 1956, tinham chegado ao fim. O jeito foi voltar à estrada e fazer shows pelo interior. Se o cantor se afastava das multidões que o consagraram, reaproximava-se da sua gente, trazendo nos braços, além da sanfona, a biografia O sanfoneiro do riacho da Brígida: vida e andanças de Luiz Gonzaga, o rei do Baião, de Sinval Sá, publicada naquele mesmo ano de 1966. Era o próprio biografado que a divulgava sertão adentro.
Tetezinha me contou que numa tarde quente e igual a todas as outras, viu Luiz Gonzaga sentado debaixo do pé de juazeiro, na praça da cidade. No calor de 38 graus a que já era acostumado, mas nem por isso deixava de padecer, ele esperava, resignado, que a d. Lozinha, proprietária da única pensão da cidade, lavasse o quarto que ele deveria ocupar.
Aquilo não era tratamento que se desse a um rei. A Tetezinha, que nunca intercedia em favor de alguém que não fosse um de nós, os filhos da madrinha, em parte seus também, voltou pra casa às pressas, encheu-se de coragem e pediu a meu pai que hospedasse o cantor. Teve de pedir ao padrinho, sim, porque cabia a ele tomar as decisões mais importantes. Desconfio que papai sorriu satisfeito mais por atender a um pedido dela do que mesmo por receber o hóspede ilustre.
Foi assim que o pernambucano Luiz Gonzaga do Nascimento, nascido em 13 de dezembro de 1912, na fazenda Caiçara, município de Exu, chegou à nossa casa. Certamente a Tetezinha não ia dizer como Acmena, personagem que Tônia Carrero interpretou em Um deus dormiu lá em casa, peça de Guilherme Figueiredo que deu a Paulo Autran, no papel de Júpiter, o prêmio de autor revelação, em 1949. A certa altura, Tônia, lindíssima, se ajoelha aos pés de Autran, lindíssimo, e diz: “A poucas mulheres cabe a glória de receber um deus sob seu teto”.
Derramamentos não combinam com o agreste. Longe do cenário faustoso da peça, reinavam a sobriedade do sertão e da anfitriã, que tratou logo de providenciar um banho fresquinho para o recém-chegado. Não se tratava de um deus. Era mais. Era o intérprete das emoções mais genuínas, as mais alegres e as mais tristes que nos impregnavam naquele universo desalentado. Se Asa branca caiu no gosto de quem nunca viveu a temática dessa toada, que dirão os que vivenciaram o “braseiro”, a “fornaia”, a “falta d’água” e, finalmente, a migração? Era tudo natural e completamente nosso, mas a música de Luiz Gonzaga transpôs o regional e se universalizou de tal modo, que se comovem com Dezessete légua e meia até mesmo aqueles que nunca botaram o pé num terreiro de barro batidinho pra sentir pulsar um coração colado ao seu.
Nosso hóspede tomou um banho, vestiu o slack branco e sentou-se na rede, na varanda da frente da casa. Talvez não se surpreendesse, e abriu o sorriso largo quando viu a pilha dos 78rpm de sua autoria. Foi assim que meus dois irmãos o encontraram quando chegaram da escola.
Lembra ainda o Francisco que Luiz Gonzaga não quis comer nada antes do show, que foi às 19 horas, no Ginásio Castro Alves, espécie de Carnegie Hall de Mombaça – é ainda meu irmão quem conta. Tetezinha teve direito de levar quantas pessoas quisesse. Assim, foi acompanhada da d. Celina, a lavadeira, d. Vicença, a rezadeira que muitas vezes rezou minha garganta com um raminho de mangiroba, e outras convidadas não menos importantes. Quando os ingressos esgotaram, Luiz Gonzaga começou o show. Em meio aos primeiros acordes, meio cantando, meio falando, ordenou que a turma do sereno entrasse. Ninguém ficou do lado de fora. Meu irmão mais novo, Geraldo, não aguentou o rojão e dormiu no colo da Tetezinha, mas nem por isso Gonzagão deixou de agradecer também, no palco, aos dois meninos da casa que o acolhia.
Só depois da apresentação é que ele quis jantar. Sem bebida alcoólica. Na sobremesa, experimentou mais de uma das compotas feitas por minha mãe. E eram muitas. Podia ter dormido na cama de uma de nós, minha ou da minha irmã, que estávamos em Fortaleza, mas preferiu a rede. Como tivéssemos, as moças da casa, direito a um quarto com camas e outro com redes, ele ficou no nosso quarto, sim, mas no das redes, na mais alva e mais rendada, como merecia.
Avisou que sairia às cinco da manhã. A Tetezinha acordou muito cedo (terá dormido?), fez tapioca de coco, cuscuz de milho, serviu o café da manhã e lá se foi o Lua, deixando um exemplar autografado da biografia de Sinval Sá, que guardo com carinho. Não imaginava ele que, dois anos depois, em 1968, Carlos Imperial inventaria que os Beatles planejavam gravar Asa branca, o que já bastou para que a popularidade do compositor subisse de novo. Mais um pouco, e em 1971, na mesma Londres de onde o conjunto inglês encantou o mundo, Caetano Veloso, então exilado, gravou Asa branca, àquela altura já um clássico, como profetizara Humberto Teixeira pouco depois da gravação, em 1947, contestando o violonista Canhoto, que achava a canção parecida com “música de cego” – conta Luiz Gonzaga em entrevista.
Que nada! No colégio da Imaculada Conceição, em Fortaleza, vira e mexe surgia a Glória, minha colega, com sua sanfona para tocar as canções de Gonzaga nas festas, assim como era frequente um sanfoneiro letrado se exibir nas reuniões em casa de amigos. Graças a Luiz Gonzaga a sanfona se aproximou do piano e passou a fazer parte da educação do jovem nordestino naquela década de 1950. Minha irmã, Laís, ganhou a sua Scandalli vermelha, que em pouco tempo abandonou, assim como eu não demorei a trocar o piano pelos cursos da Aliança Francesa e da Cultura Inglesa. Faltou-nos talento musical.
A presença de Luiz Gonzaga ia além da música e da dança: o nosso vocabulário cotidiano incorporava as expressões, que se popularizavam na sua voz: “Respeita o Januário”, dizia, ignorando o gênero, uma mulher do interior que se sentia ofendida. “No Ceará não tem disso não”, de Guio de Moraes que Gonzaga gravou, serviu a muitos cearenses atingidos de alguma forma nos seus brios. E quantas outras…
Talvez possa dizer que, na adolescência, quando tinha conhecido e me apaixonado pelo mar, em Fortaleza, encontrava em Assum preto a tradução do aprisionamento que eu experimentava quando voltava ao sertão. Mas é contraditório. Se eu me identificava tanto com a brisa da capital e não com o mormaço do interior, por que, até hoje me emociono tanto ao ouvir o clamor de Vozes da seca, hino de dignidade nordestina na parceria de Gonzaga com Zé Dantas, de 1953? “Seu doutô os nordestinos/ Têm muita gratidão/ Pelo auxílio dos sulistas/ Nessa seca do sertão/ Mas doutô uma esmola/ A um homem que é são/ ou lhe mata de vergonha/ Ou vicia o cidadão.” Talvez porque tenham se fixado para sempre na minha memória os olhares constrangidos dos cassacos – com a, como chamávamos os flagelados – a quem nós, crianças, distribuíamos farinha e rapadura, na frente da casa, em anos de seca.
* Elvia Bezerra é coordenadora de literatura do Instituto Moreira Salles
* Na imagem que ilustra a abertura do post: o compositor Luiz Gonzaga (Coleção Tinhorão – IMS)