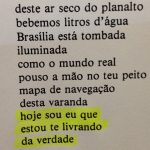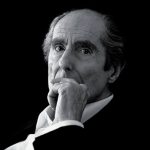Existe salvação para a comédia brasileira? Há caminhos a trilhar que não desemboquem no beco sem saída das globochanchadas imbecilizantes estreladas por Leandro Hassum ou por Ingrid Guimarães? Espero sinceramente que sim, e é essa esperança que me leva ao cinema para conferir todo filme que possa significar um respiro no panorama um tanto deprimente do humor nacional.
A tentativa da vez foi com A noite da virada, longa de estreia de Fábio Mendonça, jovem diretor oriundo da publicidade e da animação. É uma comédia baseada na peça teatral Banheiro, de Pedro Vicente, e se passa toda numa festa de réveillon numa casa paulistana de classe média alta.
O elenco, heterogêneo ao extremo, mistura astros como Marcos Palmeira e Luana Piovani a cômicos vindos da internet (Júlia Rabello, Daniel Furlan, Juliano Enrico) e veteranos como Anselmo Vasconcelos e Tony Tornado. O entrecho, como seria de esperar, envolve revelações, traições, bebedeiras, seduções, mal-entendidos.
Subjetividade do humor
Não espere nenhum O convidado bem trapalhão ou Cerimônia de casamento. Blake Edwards e Robert Altman não foram convidados. Mas há boas piadas, um ritmo razoável e ótimas atuações (sobretudo de Furlan e Enrico, como uma impagável dupla de maconheiros). A despeito de uma direção irregular, de certa histeria de tom, de um punhado de clichês (a gordinha encalhada, a ninfomaníaca, o tarado de meia-idade) e de uma ênfase em banheiros e latrinas que beira o escatológico, é uma comédia honesta, produzindo mais riso que irritação. Ao menos para mim – e aqui o uso da primeira pessoa se impõe, pois o humor é algo inevitavelmente subjetivo.

A graça – em qualquer sentido dessa linda palavra – é sempre insondável e fugidia. O que faz uma pessoa rachar de rir deixa outra indiferente ou até irritada. A noite da virada me proporcionou mais riso que irritação, o que já é muito no atual contexto.
E aqui voltamos ao assunto do início, a inanição da comédia brasileira. Mas será que isso é novidade? Talvez não. É verdade que tivemos as chanchadas, o humor popular de Mazzaroppi e dos Trapalhões, as comédias de Hugo Carvana. Mas, se observarmos bem, na maior parte dos casos o êxito desses filmes dependia muito mais do talento dos cômicos do que de valores propriamente cinematográficos. Em outras palavras: comediantes excelentes, comédias nem tanto.
Nos últimos cinquenta anos, contam-se nos dedos nossas comédias plenamente bem-sucedidas do ponto de vista cinematográfico: Todas as mulheres do mundo, Macunaíma, Vai trabalhar vagabundo, Ladrões de cinema (pequena obra-prima pouco vista de Fernando Coni Campos), Tudo bem…
Há, claro, as “comédias autorais” de Jorge Furtado (O homem que copiava, Meu tio matou um cara, Saneamento básico) ou Domingos de Oliveira (Amores, Separações, Primeiro dia de um ano qualquer), as fantasias cômicas de Claudio Torres (Redentor, A mulher invisível, O homem do futuro), as comedinhas românticas de Sandra Werneck ou Betse de Paula. Mas onde está a grande comédia brasileira, que consiga fazer rir as massas sem ofender a sensibilidade do crítico e do cinéfilo?
Graça cinematográfica
Talvez a limitação não seja só brasileira. Observando bem a história da comédia mundial, quase sempre os cômicos (de Oscarito a Totó, de Cantinflas a Jerry Lewis, dos irmãos Marx a Ugo Tognazzi, de Massimo Troisi a Renato Aragão) foram maiores que os filmes que protagonizaram. São muito poucos os cineastas que fizeram da comédia uma arte essencialmente cinematográfica, ou seja, que desenvolveram uma mise-en-scène e uma montagem cômicas, e não apenas uma continuação do teatro, do circo ou do vaudeville: Ernst Lubitsch, Billy Wilder, Jacques Tati, Blake Edwards, Mario Monicelli…
No cinema atual, vestígios dessa grande arte podem ser detectadas em filmes de Tim Burton, dos irmãos Coen e de poucos outros. Para que não soe demasiado abstrato e arbitrário, tomemos um exemplo quase banal. Em Fargo, dos Coen, há uma cena em que um criminoso enterra na neve, junto a uma cerca na beira da estrada, o produto de um roubo ou coisa que o valha. Terminado o serviço, ele olha para um lado. A cerca continua, sempre igual, a perder de vista na planície branca. Olha para o outro lado, a mesma coisa. Nenhum ponto de referência ao longo de quilômetros. Contando assim, não tem a menor graça – e é justamente esse o ponto. A graça só se realiza no cinema, e por seus meios específicos.
Outro exemplo, também dos Coen, é o seguinte trecho de Queime depois de ler, em que o personagem de George Clooney é tomado de paranoia e interpreta tudo que o cerca como uma conspiração. Claro que há dois bons atores em cena. Mas tudo é uma questão de enquadramento, de deslocamento do ponto de vista. Pode-se não gostar, mas é humor, e é cinema: