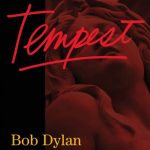Quando Iberê Camargo (1914 – 1994) realiza Núcleo de expansão, em 1965, ele já alcançara a maturidade artística havia uma década. Nesta obra reconhecemos elementos, mais formais e pictóricos do que figurativos, presentes desde seu período no Grupo Guignard, no início dos anos 1940, ou dos Carretéis, que fecha sua produção da década de 1950. Contudo, podemos afirmar duas coisas sobre Núcleo de expansão: sua articulação de uma nova fase dentro da obra do artista e, como consequência, a tentativa de sintetizar um conjunto de questões da pintura moderna ao longo do século XX.
Nos anos 1960, apesar de sobreviverem resistências das mais diferentes à arte moderna (além da formulação crescente de um cenário “pós”-moderno), a ideia de uma arte abstrata era fato consumado, em virtude de um processo transcorrido no pós-guerra. A pintura de Iberê, atenta a tamanhas mudanças, conserva uma relativa independência, uma vez que não se enquadra em nenhum dos dois grandes círculos abstracionistas (geométrico e informal). Ele talvez partilhe de inquietação semelhante a seus pares geracionais, como Milton Dacosta, Maria Leontina (e até Cícero Dias), que se aproximaram da abstração mais como experiência de uma outra modalidade de pintura na qual ganham ênfase os elementos plásticos internos – textura, tratamento da pincelada, organização compositiva e articulação entre as partes, luminosidade da cor x luminosidade tonal – do que de um programa cultural mais complexo. Por conta disso, no que diz respeito ao artista gaúcho, a oposição abstração e figuração em certa medida perde efeito. O que está em jogo, de fato, é um problema central da pintura moderna: o modo como ela concebe o real e de que maneira isto repercute na definição do seu espaço. Isto implicava, por exemplo, uma nova articulação entre figura e fundo, que deixava de pensar a tela como um campo ocupado por objetos isolados e “fechados em si”. Assim, devemos insistir – o que de jeito nenhum é um demérito, dada a época de sua realização -, Núcleo de expansão é uma obra moderna.
Como notamos isso? Uma primeira resposta se apresenta na feitura mesma da pintura, onde a presença da “mão do artista”, tradução de seu estado de espírito, é imperativa. Na mesma época tal atitude era crescentemente questionada entre as vanguardas, que vinham neutralizando o gesto em favor de uma visualidade de aspecto decididamente “urbano”, isto é, a adoção de uma paleta, o emprego de materiais, cores, tratamentos e temas inspirados nas imagens de massa das metrópoles. No entanto, em Iberê ela responde não só a uma subjetividade tempestuosa, mas também à história recente da pintura. Ela guarda um valor duplo: é tão impulsiva quanto controlada, obedece tanto a uma verdade imediata quanto ao ajuste dos planos incansavelmente retrabalhados.
A “solidez” da pintura de Iberê como contraponto ao que em mãos incautas seria “estilo” apresentava-se já nas suas obras de formação, em que os ecos da Escola de Paris são decisivos. A seu modo, a Escola de Paris, como segunda vaga modernista, procurara, cada artista guiado por suas convicções, amalgamar os caminhos dispersos e nem sempre conciliáveis empreendidos entre o final do século XIX e as primeiras décadas do XX. Boa parte disto seguramente chegou a Iberê por meio de um de seus professores, Guignard, de quem assimila mas também inverte o método. Do artista mineiro viria uma linha seca, sulcada, ou, em outros casos, uma pincelada que busca a um só tempo ser contorno e forma (problema este também oriundo, no mínimo, da modernidade do século XIX), que reverberam em Iberê nos traços feitos com o cabo do pincel e numa espécie de compactação da forma achatando-a sem renunciar a sua espessura. A manobra contrária fica patente em Núcleo. A pincelada-linha que em 20 anos engrossava progressivamente, se conserva “úmida” e transborda da compressão a que fora submetida contra a tela. Ao invés de se ajustar a ela, ocorre um jogo de forças: ela começa com uma certa espessura que em seguida se espraia no atrito contra a superfície e depois reemerge, despontando do suporte, indicando assim um tempo existencial, quiçá existencialista, da pintura. Uma vez que outras pinceladas seguem o mesmo sistema, mais do que o peso a ser sustentado pela tela, os planos se entrecortam, tensionando assim sua disposição interna entre o que avança e o que recua, ou seja, figura e fundo, contraste este acentuado pelas cores, que espelham a mesma oscilação entre reentrâncias, fissuras e emergências.
Indo além, as pinceladas em Núcleo de expansão buscam conciliar problemas, como cor e tom. A pintura moderna abandonara o conceito de cor local (que fora a base do Renascimento, na qual toda a estrutura dos objetos era dada pela escala de cinza, sobre a qual se aplicaria depois a sua cor “natural”) em favor de uma cor autônoma, porém relacional, e a luminosidade praticamente se impunha fazendo com que tom e cor existissem um em detrimento do outro. Na virada do século XIX para o XX, três artistas serão essenciais para dirimir esse impasse: Cézanne, Matisse e Picasso. O primeiro ao, mais do que levar a cabo a extinção da cor local, construir na pintura uma cor-luz que atravessa todas as partes, algo conseguido por suas pinceladas compostas de uma infinidade de cores, conferindo ao quadro uma espécie de atmosfera cromática. Tal organização sistemática das pinceladas, depositadas sequencialmente sobre a tela com uma ordem nítida, serviu no cubismo analítico para se obter uma luminosidade geral da pintura não obediente a uma fonte homogênea, desmantelando assim o esqueleto e a antiga unidade hierárquica entre partes. O cubismo “trinca” a lisura vítrea da janela renascentista. E, por fim, no caso de Matisse, em especial o dos anos 1920, que afirma o preto como cor e não mais como tom.
A partir desses pontos, podemos retornar ao quadro de Iberê, vendo como ele vivencia esse legado: se há um fulcro luminoso irradiado do centro para as bordas, a espessa camada negra que separa as partes cria uma pulsação. Esta, por sua vez, não se estabelece na oposição mecânica entre uma área totalmente clara contra outra absolutamente escura. Antes de seguirmos, cabe uma nova digressão, novamente sobre aquilo que chamamos do “primeiro” Iberê: já naquela época, seus trabalhos, à semelhança de algumas telas de Pancetti, exploraram a possibilidade de conseguir uma forma de luminosidade que, ao invés de estourar a cor, a fazia vir por baixo, ou seja, cotejando superficialidade e profundidade. Isto apareceria nas várias paisagens pintadas por Iberê entre aquela década e a seguinte, nas quais, justamente, os valores mais escuros progressivamente deixam de ser apenas tom (isto é, sombra, fundo) para se tornarem cor, luz. Tal propriedade se manifesta ainda por outro recurso largamente empregado pelo artista: o emaranhado de pinceladas grossas e compósitas (além do pigmento preto vindo direto do tubo, ele também é construído pela mistura das demais cores), de maneira que essa argamassa de tinta não apenas avance para aquém da superfície, como ainda seja pontuada pela miríade de cores em seu interior, cujo brilho é reforçado pelo verniz e pelo óleo. Sob esse ponto de vista compreenderíamos então numa primeira instância dois aspectos da “síntese moderna” pretendida – a dimensão, mesmo que enviesada, da cor matissiana, e o esquema de articulação das pinceladas, tanto em si (na sua condensação de cores) quanto como um todo (no seu método de justaposições e sobreposições percorrendo a tela), estes vindos do pós-impressionismo e do cubismo. Se nos detivermos na questão luz x cor dali remanescente, veremos que Núcleo de expansão parte de idas e vindas desse par. Não só por ambos se entremearem, mas também por termos, à analogia de Cézanne e Picasso, seja uma luz multifocal (facetada ora no halo escuro, ora fora dele), seja por se constituir aqui também a “atmosfera cromática”, mas tendo o preto e as “cores sujas” por chave, nas quais os resquícios de vermelho, azul e amarelo não deixam de saltar, fazendo essa atmosfera esquentar ou esfriar o ritmo, o compasso dessa “luz negativa” que aberta ou fechada jamais é sombra.
É importante explorar esse diálogo com a modernidade, vista sua fonte expressionista, baseada no princípio do artista externar sua relação sensível com as coisas como algo mais legítimo do que a aparência. O expressionismo promulgou sem concessões a centralidade do eu. Afim a tal substância, Iberê ultrapassa dualidades como belo e feio. Para além de uma moral, de uma conclamação, há o enfrentamento tanto do artista quanto da pintura consigo, como transparece na observação feita por ele numa conversa com Carlos Zilio, ao evocar os fantasmas que povoam a tela em branco. Tão aterrorizantes quanto as assombrações que habitam o ser ou se nos apresentam todos os dias. O expressionismo de Iberê fala do drama da humanidade pela tragédia do indivíduo. Não se trata, ao menos aqui, de repetir a biografia do pintor, mas enfatizar quanto ela convoca uma “negatividade moderna”. Negatividade moderna não significa antimodernidade nem simples pessimismo. Ela diz respeito à difícil equação entre o sujeito emancipado e o ser social tentada exaustivamente. A obra de Iberê, em oposição aos movimentos construtivistas, só a vê possível na exaustão da potência individual. Sua modernidade negativa, pois, tem um veio fáustico, pois, à semelhança do personagem de Goethe, reivindica todo o saber para dele constatar sua insuficiência. Daí seu terror e seu pacto fatal: enfrentar tudo para ir além, superar o absoluto. Quando Iberê combate os fantasmas da pintura e quer sintetizá-los, enfrenta arduamente a cada tela (nisso seu drama também repercute outro pilar moderno, Van Gogh) a dúvida acerca de todo aquele saber pictórico adquirido. Razão que, podemos supor, o leva a contrabalançar tamanho peso com o controle rigoroso da pintura, que nunca pode ser apenas efeito, mas também deve lograr a densidade da experiência que a motivou.