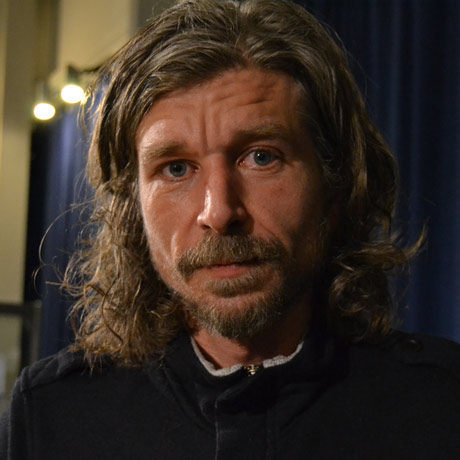Até a semana passada, eu nunca tinha lido nada do norueguês Karl Ove Knausgaard, consagrado mundo afora como o “novo Proust”. Não tinha sido por falta de informação nem de encorajamento. O monumental (mais de três mil e quinhentas páginas divididas em seis volumes) Minha luta, que narra a vida do autor e sua relação com o pai violento e alcoólatra, se tornou sucesso absoluto de vendas e de crítica em diversos países, com poucas exceções, como a França, talvez não por acaso. Da opinião entusiasmada dos amigos em quem eu mais confio à unanimidade da crítica mais influente, tudo me exortava a ler Karl Ove Knausgaard.

O escritor norueguês Karl Ove Knausgaard
Calhou de eu começar por um trecho do volume 4 publicado online (o livro acaba de sair nos Estados Unidos; no Brasil, a Companhia das Letras publicou os dois primeiros títulos da série). E, por um instante, até entender que, à diferença dos três primeiros volumes, o quarto, que conta a adolescência do autor e o início da sua vida adulta e amorosa, é deliberadamente menos reflexivo, expresso numa prosa muitas vezes rarefeita e meramente descritiva, fiquei me perguntando onde estaria o Proust contemporâneo de quem todo mundo falava.
Como só li um capítulo (o que narra o casamento do pai com a segunda mulher), tive de esperar a resenha de Jeffrey Eugenides no The New York Times para entender que não devia julgar a obra pelas partes: “O livro 4 é também o mais arejado da série. (…) Já não há as passagens ensaísticas que inspiravam os volumes precedentes, arrojados na sua profundidade europeia antiquada e repletos de associações brilhantes, sagazes e originais”.
Eugenides fala da ambição de Knausgaard de escrever “algo excepcional” num mundo saturado de ficção. Para isso, ele decidiu tomar o caminho inverso ao da imaginação sem freios (“outros escritores inventam; Knausgaard se lembra”), pondo tudo o que lhe acontecera na vida sob uma lente de aumento.
Eugenides destaca a “honestidade altamente empática” desse projeto: “A razão de esses livros se parecerem tanto com a vida vem de haver neles apenas um protagonista. Apesar de todo o seu talento, Knausgaard nunca deixa uma impressão indelével das outras pessoas. (…) É impossível entrar dentro delas sem alterar o foco do solipsismo do autor. (…) É tão mais interessante habitar a mente dele, que você nem pensa em abrir mão dessa perspectiva, assim como, na sua própria vida, tampouco pensa em deixar de ser quem é. Um dos paradoxos da obra de Knausgaard é que, ao se basear com tanta intensidade em suas próprias memórias, ele restaura – e eu diria que quase santifica – as memórias do leitor”. Tudo a ver com um processo de identificação.
Em meados do século passado, outro escritor que costuma ser comparado a Proust (por levar a frase proustiana ao paroxismo) também se propôs a criar uma obra a partir da descrição radical de si mesmo, mas com resultados diametralmente opostos. Michel Leiris publicou A idade viril (L’Âge d’Homme, publicado no Brasil pela Cosac Naify) em 1939 – e, no seu caso, a radicalidade vinha do avesso de um processo de identificação imediata com o leitor.

O francês Michel Leiris
“Knausgaard descobriu uma maneira de suspender a descrença do leitor numa época em que essa suspensão é mais difícil de ser alcançada. Sua técnica é tão astuciosa que o leitor nem se dá conta dela. Na verdade, o domínio que Knausgaard tem dos procedimentos tradicionais do romance é a razão pela qual esses livros são o oposto de chatos, embora na aparência tivessem tudo para sê-lo. Knausgaard está sempre contando um caso, sempre atraindo o leitor com alguma confusão amorosa, algum desastre sexual ou alguma crise emocional. Ele alimenta a atmosfera na medida certa; seu ritmo é impecável”, escreve Eugenides.
E embora o resenhista termine por definir a obra de Knausgaard como um “romance experimental”, a astúcia do artifício e da verossimilhança (mesmo em se tratando de um material em princípio mais “autêntico”, como as lembranças pessoais) está muito mais próxima de uma criação classicista do que de qualquer experimentação.
Num ensaio sobre a poeta argentina Alejandra Pizarnik, César Aira define dois modos literários básicos, opondo ao “processo surrealista” uma escrita de resultados: “A arte é feita desses dois estados que coexistem, simultaneamente, engajados numa dialética perene: o processo e o resultado. Não se trata de separar o que em uma obra ou em um artista corresponde a um e a outro, mas de assinalar seus polos: a arte comercial, de ‘consumo’, tende para o polo do resultado; a arte experimental ou radical tende para o polo do processo. No polo do resultado, há o leitor ou o espectador; no polo do processo, há o artista. Pode-se dizer que na arte clássica há uma harmonia entre processo e resultado. Na era moderna, essa dialética se exacerbou progressivamente: as vanguardas do século vinte a projetaram para o primeiro plano, numa corrida em favor de uma arte que devia ser ‘puro processo’”.
Escritor argentino de destaque num momento em que a obra de Cortázar passa por um revisionismo implacável (ao mesmo tempo que os paradoxos e as fragilidades do modernismo tornaram-no um alvo fácil), Aira ataca os resultados pífios do surrealismo no qual beberam tanto o autor de O jogo da amarelinha quanto a jovem Pizarnik, para assim resgatar o que há de melhor na poeta: os próprios poemas. Entretanto, sua definição dos modos artísticos, por mais dicotômica que seja, é perfeita para explicar dois projetos autobiográficos tão diferentes quanto o de Knausgaard e o de Leiris.
Michel Leiris também começou a vida intelectual ligado ao surrealismo, antes de romper com o movimento e embarcar na sua aventura antropológica. Em A idade viril (1939), ele quer despir-se, mostrar suas falhas e suas feridas, expor-se à vergonha pública. É como se, somente dissecando o próprio desejo, o que há de mais profundo, de mais secreto e de mais incompreensível em si, fosse possível chegar a alguma verdade.
Toda experimentação pressupõe um risco, está calcada no oposto do resultado e do bom acabamento por artifício, por astúcia e por dissimulação. Se o romance experimental da modernidade (assim como seu autor) expõe as próprias falhas e fragilidades, é porque está interessado em ver (e em fazer o leitor ver), para além das convenções, através das fendas que abre na linguagem, como dirá Beckett em sua correspondência. E, para ver por detrás e para além das convenções, é preciso antes desconfiar, descrer.
As passagens que Knausgaard relata de sua vida dizem respeito a uma naturalidade com a qual o leitor pode se identificar, ao mesmo tempo que se sente compensado pela narrativa, como se lesse a história de sua própria vida, realizada com a astúcia do artifício literário. Saem ambos (autor e leitor) engrandecidos e gratificados. Em contrapartida, as passagens que Leiris relata de sua vida procuram degradar o eu. Elas expõem a perda de si num confronto permanente com o desejo. O que o autor seleciona de sua vida e de suas memórias são momentos de exceção que revelam uma sexualidade perversa à qual ele está submetido. São momentos que ninguém quer confessar. Leiris busca o “prazer” da ferida (da falha), que é também uma forma de roçar a morte, a morte ligada ao sexo como chave para o entendimento da vida.
Como os surrealistas, Leiris foi influenciado pela psicanálise. Mas, em vez de autoanálise, o que ele empreende em A idade viril é umaantropologia de si. Leiris tomou parte na célebre expedição Dakar-Djibuti, em 1931-33, que acabou resultando no diário A África fantasma (também publicado pela Cosac Naify). Trabalhou durante muitos anos no Museu do Homem, em Paris. Como Georges Bataille, a quem A idade viril é dedicado, Leiris se serve da perspectiva antropológica para revisitar suas obsessões mais íntimas, sobrepondo ensaio e confissão. O resultado é surpreendente, embaralhando a subjetividade da experiência com a objetividade analítica, como se o eu fosse de fato um outro.
A literatura aparece aí como uma forma de reflexão circular, resultado do desejo que é também objeto da investigação do autor. Ele se interroga sobre suas preferências sexuais e estéticas, sobre o sacrifício presente nas touradas, nos rituais religiosos e em certas figuras e imagens da Antiguidade. E o sacrifício, que tem a ver com o ferimento e com a falha, também é um modo de se aproximar da verdade, pelas fendas infligidas à linguagem.
Nesse processo, o leitor está associado à parte ausente, ao objeto do desejo, a tudo o que falta e que leva o autor a escrever. Demasiado teórico? Demasiado francês? Pode ser. Leiris queria fazer da literatura uma antropologia de si, porque não existe prazer sem a consciência do prazer. É o inverso de um projeto que consiste em “suspender a descrença” (e a consciência) do leitor, para melhor conquistá-lo. Leiris queria que a descrença trabalhasse a favor do leitor, de sua consciência e de seu prazer. É um outro tipo de identificação: à sua própria imagem, ele queria um leitor reflexivo diante do desejo. Talvez seja essa a maior diferença entre um projeto literário moderno, tão fora de moda como o de Leiris, e uma literatura contemporânea que tenta tornar as convenções tão naturais e transparentes quanto as deseja o leitor.