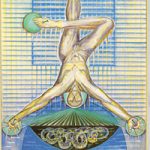Passou quase despercebida a presença de Rem Koolhaas na 1ª Bienal de Arquitetura de Veneza, 34 anos atrás, embora o arquiteto holandês já mostrasse sua autonomia intelectual ao desafiar o tema dado pelo curador Paolo Portoghesi (“A presença do passado”) com a única exposição não historicista da “Strada Nuovissima”. Havia qualquer coisa de desconcertante na cortina pendente da fachada de Koolhaas, em contraste com os elementos clássicos manejados com grau maior ou menor de ironia por arquitetos como Robert Venturi, Aldo Rossi e Hans Kollhoff na rua cenográfica construída no interior de um dos pavilhões do Arsenal. Naquele momento, no entanto, parecia mais importante discutir a apoteose do pós-modernismo em arquitetura, num debate que se tornou irresistível até para o filósofo Jürgen Habermas.

Rome – San Giacomo Hospital the Ghost Block of Giambattista Nolli / 14.Mostra Internazionale di Architettura, Fundamentals, la Biennale di Venezia / Photo By Francesco Galli / Courtesy la Biennale di Venezia
Catorze edições depois, Koolhaas retorna à Bienal de Arquitetura mais prestigiosa do mundo como curador de um megaevento que tem suscitado grande polêmica desde sua abertura, em julho passado. Porque a Bienal de Koolhaas não quer ser nem de projetos, nem de arquitetos, nem de cidade. Há um distanciamento também em relação ao foco no coletivo das últimas duas edições, dirigidas respectivamente por Kazuyo Sejima e David Chipperfield (“People meet in architecture” e “Common ground”). Esta é uma Bienal mais interessada nas complexas redes ao nível político-empresarial-institucional-industrial, sem as quais dificilmente se faz arquitetura hoje. E por isso mesmo não escapa de críticas como a de Peter Eisenmann, que dias depois da abertura se referiu à Bienal como “o fim da carreira de Koolhaas”.
“Fundamentals”, em cartaz até novembro, é composta de três mostras complementares: “Absorvendo a modernidade: 1914-2014” (tema proposto às representações nacionais), “Monditalia” (com foco na Itália) e “Elementos de Arquitetura” (dedicada ao exame de 15 elementos identificados pelo curador como fundamentos da arquitetura através dos tempos). Seja pelo tema – pela primeira vez, único para todos -, seja pelo prestígio do curador, o número de países participantes saltou este ano de 55 para 65, incluindo países estreantes como Costa do Marfim, Indonésia e Emirados Árabes. As diferentes interpretações dadas ao tema geral confirmam a impossibilidade de qualquer definição unívoca de modernidade. Alguns, como Kosovo, se declararam refratários à modernidade; outros, como a Costa Rica, problematizaram a relação entre modernização e preservação. E outros, como a França, procuraram discutir a ambiguidade contida na própria ideia de modernidade, ora vista como promessa, ora como ameaça. Nas representações nacionais, predominou de todo modo um tom crítico em relação ao século iniciado com a Primeira Guerra Mundial e o sistema Dom-ino de Le Corbusier. E alguns países não temeram fazer uma autocrítica ao seu próprio processo de modernização – caso do Chile, que desenvolveu um primoroso trabalho de pesquisa e reflexão a partir da localização de um painel pré-fabricado de concreto produzido às vésperas da queda de Allende.
O mesmo tom crítico percorre a seção “Monditalia”, no qual a proposta foi realizar um “scaneamento” da situação contemporânea da Itália. Estão expostos na Corderie do Arsenal 41 projetos de pesquisa e 82 filmes, entre colaborações das outras seções da Bienal de Veneza (dança, música, teatro e cinema). Encontramos aí registros raros da arquitetura efêmera da “Estate romana”, manifestação cultural pioneira que teve origem no período em que Giulio Carlo Argan foi prefeito de Roma e reavivou o centro da cidade com uma programação ao ar livre que chegou a levar 50 mil pessoas à Basílica de Maxencio para ver um filme de Visconti. “La fine del mondo” foca em centros sociais surgidos nas décadas de 1960 e 70, como Piper Club (Turim) e Leoncavallo (Milão). E não falta uma exposição de um dos mais radicais grupos italianos da época (Superstudio), em que a relação do tempo com a arquitetura é invocada em cinco maquetes de sal de tipos arquitetônicos históricos (como o teatro romano, a pirâmide, a basílica) que vão se desintegrando lentamente sob a ação da água, numa espécie de demonstração laboratorial do pensamento do grupo italiano: “A arquitetura está para o tempo como o sal para a água”.

Luka Skansi, “The Remnants of the Miracle” / 14.Mostra Internazionale di Architettura, Fundamentals, la Biennale di Venezia / Photo By Francesco Galli / Courtesy la Biennale di Venezia
Quem percorre o “Monditalia” percorre, afinal, também uma história do desastre político e cultural que marcou a Itália nos últimos 20 anos. No filme de Ila Beka e Louise Lemoine, o arquiteto Stefano Boeri visita o complexo “La Maddalena”, que projetou para abrigar o encontro do G8 em 2009. A edificação, hoje abandonada, não chegou a cumprir sua destinação, em função da decisão do premier Silvio Berlusconi de deslocar o evento para a cidade de L’Aquila, então destruída por um terremoto. Caminhando pela estrutura abandonada do que teria sido sua “obra-prima”, Boeri se reconhece como um “perdedor” diante do que se tornou o próprio “símbolo do desastre da política italiana”. Pouco adiante, outra exposição questiona a reconstrução de L’Aquila após 2009 – quase tão desastrosa, do ponto de vista arquitetônico, paisagístico e ambiental quanto o próprio terremoto. “I resti di un miracolo” faz um painel de grandes obras da arquitetura italiana construídas no período do “milagre econômico” italiano (anos 1950-60) e hoje em estado de ruínas. E “The Ghost Block of Giambattista Nolli” interroga os conceitos de patrimônio público e preservação a partir do foco num hospital público construído no centro de Roma no século XIV e fechado recentemente, para ser demolido e transformado num empreendimento imobiliário.

Biblioteca Laurenziana. AMO, Charlie Koolhaas, Rem Koolhaas, Manuel Orazi / 14.Mostra Internazionale di Architettura, Fundamentals, la Biennale di Venezia / Photo By Francesco Galli / Courtesy la Biennale di Venezia
Uma das exposições mais tocantes é um painel dedicado à Biblioteca Laurenziana de Michelangelo em Florença, com um pequeno texto de Rem Koolhaas e fotos de sua filha, Charlie Koolhaas. O tema do “erro” aparece aqui como uma provocação para os arquitetos que abrem mão do potencial transformador – e, por que não?, transgressor – da arquitetura e se limitam a seguir normas e dar respostas, numa postura obediente e subserviente que só empobrece a sua própria prática.
A grande exposição curada pelo próprio Koolhaas está, no entanto, no Pavilhão Central dos Jardins da Bienal. “Elementos de Arquitetura” é resultado de uma pesquisa de dois anos, desenvolvida com alunos de pós-graduação da Harvard Graduate School of Design, em torno de 15 elementos considerados “fundamentais”: piso, parede, teto, cobertura, porta, janela, fachada, balcão, corredor, lareira, toalete, escada, elevador e rampa. Pode-se questionar o argumento usado pelo curador na seleção desses elementos – “conhecidos universalmente e utilizados por todos os arquitetos em todos os lugares e em todos os tempos”, segundo ele. Mas, evidentemente, o que está em jogo, antes de tudo, é a própria ideia de tomar como objeto de estudo e exposição “elementos” arquitetônicos que não guardam nenhuma relação com o que a tradição da arquitetura reconhece como tais.

“Fundamentals” / 14.Mostra Internazionale di Architettura, Fundamentals, la Biennale di Venezia / Photo By Francesco Galli / Courtesy la Biennale di Venezia
A exposição busca dar uma dimensão discursiva a esses elementos, construindo um imenso catálogo 3D (e às vezes 4D) de itens arquitetônicos de todos os tempos, dispostos sem muita organização cronológica nem geográfica. A saturação de informações e estímulos (visuais, textuais e sonoros) lembra às vezes as feiras de materiais de construção, com aquela mesma profusão de stands de indústrias e fornecedores afoitos para exibir seus produtos. Noutras vezes, parece se aproximar mais do “pasticcio” de John Soane, historiador inglês que amontoou em sua casa londrina incontáveis fragmentos de arquitetura do mundo clássico. Só que Koolhaas nivela tudo num Junkspace que elimina todas as expectativas e reduz drasticamente o lugar que ainda se poderia reivindicar para o arquiteto – a não ser que se assuma de uma vez a arquitetura como uma mera operação de montagem, ainda que nada ingênua, conforme sugere o filme que recepciona o público: uma edição meio aterrorizante de cenas extraídas de vários filmes na qual encontramos os mesmos elementos que são objeto da exposição.
O gosto de Koolhaas pelo excesso, como sempre, é desnorteante. Algumas preciosidades, como o estudo tipológico das coberturas chinesas, acabam quase se perdendo no amontoado de maquetes que justapõe coberturas javanesas à estruturas de Zaha Hadid, Mecanoo e Felix Candela. Se para quem é arquiteto já é cansativo, para quem não é deve ser insuportável. Por outro lado, o gigantismo desta Bienal revela também a capacidade do curador de conceber, reunir e coordenar a realização de um megaevento que se desdobra praticamente em escala 1:1 frente à Veneza, agenciando um tecido sociopolítico hiperinstitucionalizado que inclui instituições históricas como a própria Bienal de Veneza, a prefeitura, museus, universidades, e claro, as indústrias e corporações financeiras. É notável também a relação construída entre a exposição e o livro que resume a pesquisa de “Elements”. O livro (em seus 15 capítulos/fascículos) está lá, em vários momentos e de vários modos, mas não se tem a sensação desagradável de que a exposição tenha sido concebida como um “livro em pé”. Até porque quem assina o design do livro – bem como a identidade gráfica de toda a Bienal – é Irma Boom, premiada por buscar uma abordagem arquitetônica para o design de livros, em que aspectos como escala, estrutura e materialidade são enfatizados.
Ponto forte desta Bienal, a valorização de arquivos começa pelo acervo da própria instituição, de onde são extraídos vários trabalhos e leituras (com destaque para as plantas das diferentes configurações espaciais do próprio interior do pavilhão central ao longo das Bienais, apresentadas lado a lado na seção dedicada à parede). Mas sem dúvida um dos arquivos mais impressionantes é o de Friedrich Mielke, alemão que teve uma perna amputada na Segunda Guerra e desde então se dedicou a estudar obsessivamente escadas, na sua relação com o corpo humano. Seu arquivo – hoje na Universidade de Regensburg – constitui um imenso catálogo de tipologias de escadas, composto por fragmentos, fichas, fotos, estudos e modelos de escadas do mundo todo. Isto lhe permite estabelecer comparações entre uma escada aristocrática, por exemplo, e uma escada burguesa, que apresenta degraus mais baixos e, portanto, pode ser vencida mais rapidamente, além de ser mais estreita, ocupando assim menor espaço.
“Modernidade incontaminada”
O Brasil está presente pontualmente em várias seções. Na mostra árabe, encontramos um projeto de Oscar Niemeyer no Líbano. Já o inventário de pedagogias radicais feito por Beatriz Colomina (e inexplicavelmente incluído na seção “Monditalia”) inclui Lina Bo Bardi e Vilanova Artigas. Na videoinstalação de Wolfgand Tilmans se reconhecem o Copan, talvez uma favela, o Minhocão e a Perimetral. E o Pavilhão do Uruguai (belíssima estrutura de madeira, cabos de aço e água, instalada no interior de um convento fora dos Giardini) inclui imagens de projetos de Affonso Eduardo Reidy em Assunção (escola Brasil-Paraguai e Cidade Universitária), e uma menção à visita de Paulo Mendes da Rocha ao país.

“Brazil: Modernity as Tradition” / 14.Mostra Internazionale di Architettura, Fundamentals, la Biennale di Venezia / Photo By Andrea Avezzù / Courtesy la Biennale di Venezia
O Brasil está quase ausente da exposição de Koolhaas, porém. Não o encontramos nem mesmo na seção destinada à cobertura, em que a presença de Niemeyer, pelo menos, seria de se esperar. É na seção dedicada aos “balcões” que encontramos mais imagens do Brasil – sob o ponto de vista do seu uso político, no entanto, em fotos de Brizola e Lula acenando para o público. Curiosamente – ou nem tanto, se considerarmos o silêncio já assinalado por Adrian Gorelik -, Brasília tampouco figura no painel cronológico que ocupa o Pavilhão Stirling e que resume o século em termos de arquitetura. Ali, o Brasil aparece em três momentos: 1943 (exposição Brazil Builds no MoMA), 1953 (MAM-RJ) e 2001 (Parque Guinle) – o último, como expressão de uma modernidade supostamente “ainda incontaminada”.
O texto de apresentação apressa-se em esclarecer que o painel foi montado a partir de informações enviadas pelos curadores das representações nacionais. Parece mais uma provocação, como se o curador da Bienal não fosse, ele mesmo, um dos grandes pensadores atuais sobre os processos de modernização e urbanização. O que seria essa modernidade “ainda incontaminada”, em todo caso? Não seria o caso de interrogar minimamente uma formulação como essa, de simplismo tão assombroso?
Mas a participação brasileira mostra-se mesmo lamentável quando se chega ao Pavilhão do Brasil. O tom crítico que marca o Monditalia e vários outros pavilhões, assim como o enorme potencial do tema geral oferecido por Koolhaas foram absolutamente ignorados em prol de um pot-pourri acrítico que se apresenta com a pretensão de fazer uma breve história da arquitetura no Brasil desde o século XVIII até hoje. A exposição usa e abusa de fotos vistosas e dispõe pouquíssimas informações. Plantas e/ou cortes, por exemplo, praticamente inexistem. Nem mapa, referência geográfica ou contextualização. Mesmo quando se expõe algum resultado de pesquisa – “mapas Nolli” de superquadras de Brasília, produzidos por uma equipe da Universidade de Rice -, isso é feito de maneira superficial e apressada, com um grau de didatismo descabido (ou seria mesmo preciso explicar o mapa Nolli de Roma numa exposição montada na Itália?)
O projeto expográfico se limita a colar fotos nas paredes e fixar um percurso linear por meio de injustificáveis divisórias de isopor que procuram reproduzir elementos como treliças e cobogós. Sem justificar o motivo pelo qual o amplo recorte cronológico escapa ao século focado pela Bienal, o curador André Corrêa do Lago propõe uma estrutura bastante confusa: cronológica até 1956 e, a partir de então, supostamente tipológica. Mesmo aí, no entanto, o resultado é constrangedor, pois o equívoco de considerar “casa” como um tipo, por exemplo, se torna particularmente grave numa exposição realizada na terra de Aldo Rossi (cujas investigações tipológicas estabeleceram um marco teórico e projetual para a arquitetura da segunda metade do século XX, como se sabe).

“Chile: Monolith controversies” / 14.Mostra Internazionale di Architettura, Fundamentals, la Biennale di Venezia / Photo By Andrea Avezzù / Courtesy la Biennale di Venezia
Essa sucessão de equívocos se torna mais espantosa quando observamos o quanto os melhores pavilhões desta Bienal investiram em pesquisa: o Chile se concentrou num elemento pré-fabricado de alto valor simbólico. O Japão abriu caixas e caixas de arquivos e documentos que revelam novos aspectos e personagens de um dos períodos mais produtivos da sua arquitetura. Os Estados Unidos fizeram do próprio pavilhão um espaço de produção e documentação sobre a exportação da sua arquitetura num mundo cada vez mais globalizado. A Coreia inventou meios de mapear sua dicotomia. Em que pesquisa, afinal, investiu o Brasil? Ao desconsiderar o enorme esforço crítico e historiográfico que tem sido feito no país nas últimas décadas, com a abertura de várias linhas de pesquisa e investigação sobre a complexa modernidade arquitetônica brasileira, o que o Pavilhão do Brasil expõe, fundamentalmente, é nossa imaturidade crítica e curatorial.