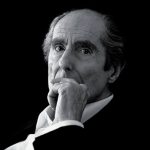- Um viajante (Marcel Ophuls)

(Cannes). Num festival especialmente voltado para a ficção produzida pela grande indústria do audiovisual, um fim de semana marcado por documentários: no programa de sábado e domingo três passeios pela memória, três voltas ao passado, mas nenhuma nostalgia: ao contrário, um obsessivo ajuste de contas de seus diretores com a história.
Em Um viajante (Un voyageur), Marcel Ophuls (86 anos) dá voltas em torno de si mesmo, das recordações do pai, Max Ophuls, e de algumas imagens de A dor e a piedade (Le chagrin et la pitié, 1969), Memória da justiça (Memory of justice, 1976) e Hotel Terminus (1988).
Em A imagem perdida (L’image manquante), Rithy Panh (49 anos) revê a infância e retoma a discussão em torno do Camboja do período de Pol Pot iniciada en S-21, a máquina da morte do Khmer Vermelho (S-21, la machine de mort Khmère rouge, 2003).
E, no mais longo e denso dos três, O último dos injustos (Le dernier des injustes), Claude Lanzmann (88 anos) edita uma longa entrevista – filmada em 1975, durante a realização de Shoah (1985) mas não incluída no filme – com Benjamin Murmelstein, o último presidente do conselho de judeus do gueto de Theresienstadt – na denominação nazista, o Judenältest (judeu mais velho) do Judenrat.
Entre pequenas (e nem sempre interessantes) anedotas (sobre como quase namorou Marlene Dietrich, como quase foi amante de Jeanne, como suspeita de um romance entre François Truffaut e a mulher dele), entre lembranças de reações provocadas por Le chagrin et la pitié (a oposição intransigente de Simone Weil, a carta elogiosa de Stanley Kubrick) e de conversas com Otto Preminger e Bertolt Brecht, por meio de pequenas anedotas Marcel Ophuls organiza “uma espécie de livro de memórias, mas um livro filmado, porque não quero me fazer passar por escritor”. Para Marcel, escrever mais de dez páginas é um suplício, pois “escrever é um trabalho terrivelmente solitário. Melhor me servir daquilo que manejo com maior facilidade: uma câmera”.
A citação de Groucho Marx em Gênios da pelota (Horse feathers, de Norman McLeod, 1932) resume o tom da narrativa de Um viajante: seja o que for, sou contra (whatever it is, I’m against it). Um bom bocado de irreverência e outro de narcisismo marcam o autorretrato de Marcel. Quase todo o tempo ele conversa com a câmera como quem fala para o espelho, contente por se divertir com o instrumental do documentário “sem ter de entrevistar pessoas horríveis” como nos filmes sobre a Clermont Ferrand ocupada pelos nazistas, o julgamento de Nuremberg ou Klaus Barbie. “Entrevistas, só com amigos, com pessoas que tive a sorte de conhecer”, diz, referindo-se às breves conversas com o documentarista Frederick Wiseman, a atriz Jeanne Moreau e o fotógrafo Elliot Erwitt.
Um viajante conta com a cumplicidade de um público interessado em cinema. Marcel pouco se volta para seus filmes, quase não comenta sua experiência entre os primeiros filmes de ficção, os documentários que o consagraram e seu último trabalho, Veillès d’armes, sobre a guerra na Bósnia (ou melhor, sobre o jornalismo em tempo de guerra), lançado em Cannes em 1994. Mas seu retorno à produção com este filme-livro de memórias é uma coletânea de historietas de cinema: dos irmãos Marx imitando Maurice Chevalier a Billy Wilder comentando a personalidade e coragem de Michelangelo Antonioni, “um homem disposto a entediar os espectadores durante mais de duas horas no cinema”; da amizade com François Truffaut (“sem ele Le chagrin et la pitié não teria sido exibido”) à inimizade com Preston Sturges (“humilhou meu pai ao afastá-lo da direção de um filme e dizer que ele não tinha nascido para trabalhar em Hollywood”).
Os trechos em que Marcel conta as histórias vividas com o pai, Max Ophuls, na Alemanha, na França e depois nos Estados Unidos, são os mais significativos. A conversa é enriquecida pela inserção de fragmentos de filmes (entre outros, Carta de uma desconhecida / Letter from an unknown woman, 1948 e La ronde, 1950) e comentários das situações reais que inspiraram determinados episódios ou soluçõs de de cena. Nesses momentos, Um viajante converte-se numa memória afetiva sem perder o tom ligeiro, quase superficial, de um narrador que passa pelas coisas em constante deslocamento, sem se deter em especial sobre nada.

- A imagem perdida (Rithy Panh)

Já as memórias de Rithy Panh são sempre amargas. Depois de passar por velhas latas de filmes deteriorados pela umidade, poeira e ferrugem, Panh se serve de pequenos bonecos de barro para sugerir as imagens que faltam dos campos de trabalho e “reeducação social” do Camboja durante o regime do Khmer Vermelho, entre 1975 e 1979. A documentação em A imagem perdida se realiza em níveis diferentes e superpostos:
Primeiro, planos de detalhe mostram as mãos que fazem os bonecos de barro, e então o filme documenta o gesto mínimo das pontas dos dedos, do estilete e do pincel que dão forma, expressão e cores a cada figura, representações dos guardas do Khmer Vermelho ou dos homens, mulheres e crianças nos campos de trabalho.
Logo o que se documenta é o dia a dia da “reeducação social”, por meio de uma cena quase ficcional, quase de teatro, mas teatro imóvel, projeção da memória, as figuras dispostas num cenário em miniatura para reconstituir os campos de trabalho forçado no Camboja da metade da década de 1970.
E adiante, a documentação é feita com comentários sobre imagens de arquivo, fragmentos de filmes de propaganda do regime de Pol Pot sobre os campos. Outra representação resulta da fusão das coloridas figuras de barro sobre o preto e branco dos filmes de propaganda. Sobre as imagens movimentadas, mas de um cizento quase fantasma, das recepções e festas oficiais da propaganda do regime, o colorido vivo, mas triste, parado, dos bonecos de barro em primeiro plano.
Ophuls e Lanzman contam seus filmes de dentro da imagem, são ao mesmo tempo narradores e personagens de si mesmos. Panh, em seu documentário, se serve também de uma narração em primeira pessoa e de certo modo está no centro da questão, mas se representa na imagem por meio dos bonecos de barro. Às vezes a cena resulta do movimento da câmera entre as figuras imóveis da maquete feita para encenar cenas como a do julgamento de uma mulher acusada de roubar duas mangas, a infância antes do Khmer, a família no campo de trabalho. Outras vezes, nasce quase somente da expressividade da figura de barro ou do fato de o espectador ver a figura de um menino dobrado sobre si mesmo surgir gradualmente do barro informe, a boca aberta num grito de dor num boneco, o medo no rosto de um outro diante dos guardas – a câmera, nesses momentos imóvel, observa.
Uma cena breve, quase ao final do filme, parece resumir o ponto de partida de A imagem perdida. Um homem e um menino se afastam da câmera, que ora volta-se mais para o adulto, ora mais para a criança, enquanto na narração Panh diz não saber com exatidão se persegue a infância que a rigor não pode viver ou se é perseguido pelo pesadelo que viveu na infância. Talvez por isso, como uma sequência de seu filme anterior, sobre uma escola transformada em prisão e centro de tortura, documenta as prisões e campos de trabalho forçado do Khmer Vermelho quase como se fosse um brinquedo de criança, um teatrinho de bonecos de barro.

- O último dos injustos (Claude Lanzman)

O melhor, mais longo (três horas e quarenta) e mais denso desses três documentários reúne um personagem à parte, Benjamin Murmelstein, e um realizador à parte, Claude Lanzman, dedicado aqui ao que define como uma questão ao mesmo tempo lateral e central ao Holocausto, tal como descrito em Shoah. O último dos injustos trata do gueto de Theresienstadt, na então Tchecoslováquia. Murmelstein foi o terceiro e último presidente do conselho judeu desse gueto modelo mandado construir por Adolf Eichman. E o único a sobreviver à guerra. Seus antecessores foram mortos, um com um tiro na nuca, outro no campo de extermínio de Auschwitz. Ele sobreviveu, explica, porque como Scheherazade nas Mil e uma noites contou histórias sem fim, uma colada na outra. Sobreviveu, diz ainda, porque soube portar-se como Sancho Pança. Narrador brilhante, entrevistado que conduz o entrevistador, Murmelstein leva Lanzmann a montar uma conversa de certo modo complementar à de Shoah e de outro inteiramente diferente, num outro tom, sobre um outro aspecto do Holocausto, que convém examinar com mais atenção numa seguinte nota.
* José Carlos Avellar é coordenador de cinema do IMS.