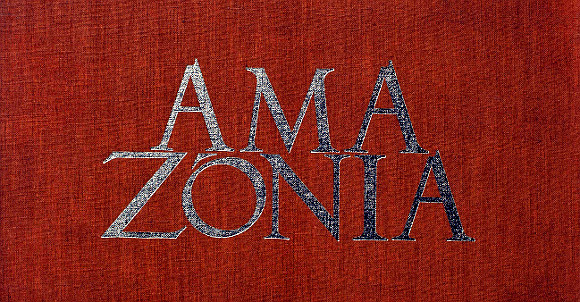
Quando o livro Amazônia (editora Práxis), com fotos de Claudia Andujar e George Love, foi lançado em 1978, ficou sem uma parte fundamental: o texto de Thiago de Mello feito especialmente para a publicação, batizado de Amazônia – Pátria das águas. Ele foi censurado pela ditadura militar, que já caminhava para o ocaso, mas continuava restringindo os trabalhos de artistas, em especial os que desafiavam frontalmente o regime, caso do poeta de Faz escuro mas eu canto.
Thiago diz que chegou a ver a edição com seu texto incluído, mas, se ela circulou, foi pouco. Suas palavras em defesa da Amazônia saíram mais tarde numa edição da Civilização Brasileira e, mais recentemente, pela Global-Gaia, ilustradas com desenhos e pinturas dos índios ticunas e fotografias de Claudio Marigo.
O texto que ganhou uma aura mítica por causa da censura é reproduzido aqui no Blog em função da exposição Fotolivros latino-americanos, em cartaz no Instituto Moreira Salles do Rio de Janeiro. Uma das salas da mostra é dedicada apenas a Amazônia, um marco na história dos fotolivros e decisivo nas carreiras de Claudia Andujar e George Love.
De 7 a 10 de maio o IMS-RJ promoverá também o seminário Fotolivros latino-americanos, paralelo à exposição, com o objetivo de promover o debate sobre a história dos livros de fotografia e o novo lugar dos livros de arte no cenário da produção editorial contemporânea. As inscrições estão abertas.
Assista agora a um vídeo, que consta da exposição, com as páginas de Amazônia, e em seguida leia o texto integral de Thiago de Mello.
http://www.youtube.com/watch?v=S5i849_Xzww
Da altura extrema da cordilheira, onde as neves são eternas, a água se desprende, e traça trêmula um risco na pele antiga da pedra: o Amazonas acaba de nascer. A cada instante ele nasce. Descende devagar, para crescer no chão. Varando verdes, faz o seu caminho e se acrescenta. Aguas subterrâneas afloram para abraçar-se com a água que desceu dos Andes. De mais alto ainda, desce a água celeste. Reunidas elas avançam, multiplicadas em infinitos caminhos, banhando a imensa planície cortada pela linha do Equador.
Planície que ocupa a vigésima parte da superfície terrestre. O verde universo equatorial que abrange nove países da América Latina e ocupa quase a metade do território brasileiro. Aqui está a maior reserva mundial de água doce, ramificada em milhares de caminhos de água, que atravessam milhões de quilômetros quadrados de chão verde. É a Amazônia, a pátria da água.
É a Grande Amazônia, toda ela no trópico úmido, com a sua floresta compacta e atordoante, onde ainda palpita, intocada pelo homem, a vida que se foi urdindo em verdes desde o amanhecer do Terciário. Intocada e desconhecida em muito de sua extensão e de sua verdade, a Amazônia ainda está sendo descoberta. Iniciado há quatro séculos, o seu descobrimento ainda não terminou. E, no entanto, pelo que já se conhece da vida na Amazônia, desde que o homem a habita, ergue-se das funduras das suas águas e dos altos centros de sua selva um terrível temor: a de que essa vida esteja, devagarinho, tomando o rumo do fim.
Pois então vamos remando
na água negra transparente.
Vem comigo descobrir
as fontes verdes da vida.
Mas contigo travo amor,
para com dor aprender.
A este universo de água e de terra, de rio e de selva, chegou o homem. É recente a sua chegada. Só há dez mil anos, já sabem os cientistas, chegaram os índios à Amazônia e dela fizeram a sua morada. É portanto o tempo de sua fundação, do seu verdadeiro começo: o homem chegando para permanecer e para amar.
Da história desse homem primitivo, quer dizer, o que chegou primeiro, mais adiante um pouco eu vou contar. Muito pouco, porque é quase nada o que dele ainda resta, escondido nos longes espessos da selva, agarrado ao sol de sua inocência.
Depois os outros chegaram. Os chamados brancos, com a cruz e o arcabuz; e o sangue que ia ajudar a compor uma nova etnia, ao longo de quatro séculos de aventura humana. Aventura que se prolonga, ainda hoje, marcada pelo signo do desamor. Extração, saque, destruição, extermínio.
É tempo de dizer que é dolorido, para mim, caboclo do Amazonas, dizer da verdade da vida que reúne, e desune mais que une, as águas, as florestas, os animais e os homens do Amazonas. Acabo de subir o rio Solimões, desde o seu encontro com o Negro, onde as águas barrentas de um não se misturam com as negríssimas do outro, até o triângulo amazônico que forma o Brasil com o Peru e a Colômbia. Dias e dias de viagem, contra a correnteza, numa pequena embarcação a motor. Tempo de enchente, o rio crescido alagando a várzea, derrubando casebres e árvores. Horas e horas de viagem, sem encontrar uma criatura humana. Só, de repente, um bando de garças, crivando, alvíssimas, a transparência da tarde. E subitamente, numa curva do rio, uma pequenina canoa beirava o barranco, o homem na proa acenando com o remo, oferecendo peixe fresco. O olhar bom, o gesto generoso. Mas sofrido: um filho menino lhe vinha de morrer, sem nenhuma assistência, devorado de febres. Aprendi com aquele irmão de águas que em tempos doloridos é preciso trabalhar com esperança na construção da alegria.
Como no Gênesis flutuava a cara de Deus, hoje é a esperança que paira sobre a face das águas do meu rio. Que ainda paira. Apesar de tudo. Apesar da destruição, do saque de suas riquezas, do desflorestamento impiedoso, da fauna ameaçada, do desamparo do homem ribeirinho – a esperança amzônica resiste. O coração do homem não se cansa. Se, de tão malferida, a floresta se cansa, este o nosso grande temor.
Vem ver comigo o rio e suas leis.
Vem aprender a ciência dos rebojos,
vem escutar o canto dos banzeiros,
o mágico silêncio do igapó
coberto por estrelas de esmeralda.
Este é o rio que Vicente Pinzón olhou em 1500, sem saber que já havia abandonado o Atlântico e ingressava na foz de um oceano de águas doces. Santa Maria de la Mar Dulce. Era o Amazonas varado pela quilha das caravelas primeiras. O Paraná-açu dos índios que habitavam as suas margens. Foram muitos os seus nomes:
Mar Dulce, o rio de Orellana,
Marañon. O Guieni dos índios aruaques.
Parauaçu dos tupis.
O Grande rio das Amazonas.
Rio Amazonas, que percorre mais de seis mil quilômetros, desde o fio de água que desce do lago Lauri, Lauricocha, na cabeça dos Andes, desce também de Vilcanota, e logo se engrossa no Urubamba, transforma-se no Ucayali, depois já é o caudal do Solimões na selva peruana, encontra a sua calha principal entrando no Brasil levando o mesmo nome até encontrar-se com o Negro e então fazer-se Amazonas propriamente dito, impetuoso, varando profundo o Estreito de Breves, e encontrar-se com o Atlântico e empurrar para trás as águas do mar até enormes distâncias.
É verdade que o mar se vinga. Reúne as suas forças salgadas e retorna com fúria, em ondas de muitos metros de altura, que rolam grossas e com grande estrondo sobre as águas do rio, derrubando margens, afundando batelões e até navios.
Eu venho desse reino generoso,
onde os homens que nascem dos seus verdes,
continuam profundamente irmãos
das coisas poderosas, permanentes,
como as águas, os ventos e a esperança.
A lei do rio não cessa nunca de impor-se sobre a vida dos homens. É o império da água. Água que corre, água que leva e lava, água que se despenca em cachoeira, água que roda no rebojo, água que vai e volta em repiquete, água parada no silêncio do igapó. Água funda, água rasa onde os barcos encalham. Água negra do Andirá e do Negro. Água barrenta do Solimões, do Madeira, do Purus. As águas claras e verdes do Tapajós, do Xingu.
É o Amazonas e o seu ciclo das águas. Tempo das “primeiras águas”, quando o rio dá sinal de que tem vontade de crescer. Tempo de enchente, de vazante, tempo de seca. E o regime das águas condicionando e transformando a vida do homem amazônico ao longo das etapas do ano. Em qualquer lugar do Amazonas. Não só no interior das florestas, na beira dos rios. Também nas cidades e nos principais centros urbanos da região – o homem sofre os efeitos da subida ou da descida das águas. Na sua casa, na sua comida, no seu trabalho de cada dia. O regime das águas é um elemento constante no cálculo da vida do homem. Porque são também ciclos econômicos. Grandes vazantes significam grandes colheitas: a terra da várzea inundada é fertilizada pelo rio, que lhe deposita sais minerais e matérias orgânicas. É tempo de grandes pescarias, tempo de bom plantar. Grandes cheias correspondem a duras calamidades e amargas misérias: o peixe se esconde nos lagos de remanso, as plantações são destruídas, o gado tem de ser levado para as alturas da terra firme ou então é reunido na “maromba”, exíguo curral erguido sobre esteios acima das águas. O soalho das casas fica submerso, as sucurijus se aproximam no faro dos animais domésticos. O homem fica à mercê do rio. Mas não desanima: espera pela vazante, e alteia o soalho, e aproveita a terra enriquecida pela enchente. O rio diz para o homem o que ele deve fazer. E o homem segue a ordem do rio. Se não, sucumbe.
O rio diz para o homem. Sucede que a floresta não pode dizer. A floresta não anda. A selva fica onde está. Fica à mercê do homem. Por isso é que há quatro séculos o homem vem fazendo da floresta o que bem quer. Com ela, e com tudo que vive nela, dentro dela. A floresta entrega o que tem. São séculos de doação que a floresta amazônica tem de bom para a vida do homem da região e das mais afastadas partes da terra. Sobretudo para os homens da Europa e da outra América, que são, ao longo da história da exploração dos recursos naturais da Amazônia, os que melhor fruíram e mais se enriqueceram com as riquezas da nossa floresta.
São trezentos e cinquenta milhões de hectares,
são setenta bilhões de metros cúbicos de madeira em pé.
Um terço da reserva mundial de florestas.
A floresta dá tanta coisa para o homem há tanto tempo. Desde o começo, quando os europeus chegaram, na busca das especiarias. Era o cravo, era a pimenta, a canela, a baunilha, a salsa, a alfavaca.
Malagueta, murupi,
camapu, cajuarana,
todo o segredo da selva
no travo de um cumarim.
O saque começou pelas drogas do sertão. E continua, até os dias de hoje, cada vez mais impiedoso. De suas essências, a principal delas a do pau-rosa, o privilegiado fixador de perfumes. Os seus produtos medicinais, extraídos de folhas, raíles e cascas de árvores. A andiroba, a copaíba, o sumo da casca de mungubeira, o curare milagroso e maligno, e a extraordinária quina, nativa do nosso chão. Os alucinógenos: ipadu, iagé, paricá, o caapi dos sonhos telepáticos. O guaraná estimulante que os índios descobriram e até hoje cultivam. O alimento generoso de suas frutas inumeráveis. O mundo inteiro consome a chamada “castanha-do-Pará”, tão rica de proteína e gordura e sais minerais. O cacau é originário da Amazônia. Não cabe aqui a louvação nem resumida das virtudes da nossa floresta. Mas como não gravar aqui, mesmo de relance, a marca funda, conquanto suja, que deixou na vida da Amazônia as qualidades das seivas e gomas elásticas da selva. A borracha – a famosa Hevea brasiliensis – é o fundamento de todo um período histórico da vida social e econômica da região, durante o qual a Amazônia conheceu extremos de opulência e de miséria. Milhares de homens se adentram pela mata para extrair o leite das seringueiras. A Amazônia entre 1895 e 1909 exporta mais de 400 mil toneladas de borracha, pagas pelos europeus a preço de ouro. Em Manaus, Belém e Iquitos vivia-se a grande vida, erguiam-se palácios. Sucede que em 1881, as sementes da Hevea brasiliensis, levadas pelos ingleses em sacas escondidas, e plantadas na Malásia, frutificaram em Singapura. Depois em Java, e na Sumatra. Em 1911 o Amazonas produz 45 mil toneladas, enquanto as seringueiras da Malásia apenas 8 mil. Mas em 1920, a asiática alcançava 360 mil toneladas e a do Amazonas descia a 8 mil, vendidas a preços aviltados. Era o fim do ciclo da borracha. E um saldo de milhões de seringueiras murchas.
A extração de madeiras da floresta, iniciada desde o instante em que o primeiro índio derrubou a primeira árvore para fazer a sua canoa e construir a sua maloca, nunca mais cessou. E cada dia cresce mais o deflorestamento. A floresta amazônica, fragmentada em toros de madeira de lei, espremida na superfície dos compensados, hoje é levada para quase todos os lugares do mundo.
Munguba, morototó, louro itaúba,
Açacu, acariquara, mogno,
cedro, quaruba, pau mam, faveira,
sucupira, angelim, pau de andiroba.
Vamos, vem ver o reino vegetal. Entra comigo na espessura úmida. A floresta já sabe que chegaste, todos os verdes se movem, querendo saber quem és. O silêncio se anuncia, gota a gota, despencado das asas de mariposas e pássaros. A selva te recobre, com a sua abóbada de palmas e te encerra na umidade da escuridão diurna. As frondes colossais acumulam o tempo, nas nervuras geométricas das folhas. Os caminhos se fecham nos emaranhados verdes. O silêncio é penetrado pelo punhal agudíssimo do zumbido dos insetos, que proclamam, em ondas de sombra, a chegada do anoitecer na selva. Ouve o lamento ancestral dos guaribas, o silvo mágico das serpentes, o esturro das feras felinas que percorre vibrando as distâncias da planície ferida. Subitamente, a selva inteira estremece e vibram as raízes mais antigas das sumaumeiras altíssimas. É a floresta amazônica submetida pelo relâmpago, devassada na sua tenra intimidade pelo fulgor vertiginoso do raio.
A chuva é um elemento constante na selva amazônica. Chove todos os dias, mesmo no verão, que é o tempo da seca. As grandes nuvens bojudas e brancas do céu equatorial, de repente se movem pesadas, escurecem e se dissolvem: desce a pancada d’água, o temporal do Amazonas, a ventania cantando. É de manhãzinha, é no meio do dia, é quando tu vais de noite atravessando o rio, a escuridão rasgada de relâmpagos, de uma margem à outra, iluminando a face enfurecida das águas.
Vale registrar o índice de pluviosidade na Amazônia: 3000 mm por ano. É um dos lugares onde mais chove neste mundo dos homens. E a chuva lava e vai levando tudo da terra para o rio. O solo desmatado fica sem o pouco húmus que lhe sobrou, levado pela chuva. E os homens respeitam, temerosos, as forças do temporal, que verga e derruba árvores imensas, muitas levadas pela correnteza, troncos que se chocam contra os barcos, estraçalhando quilhas e calados. Morreu afogado no temporal – é frase frequente nos barrancos da minha terra.
De um temporal desses, uma vez no Solimões peruano, nós escapamos vivos: o índio Morón e seu filhinho de cinco anos, eu e o caboclo Rios. Eu passara o dia numa pequena aldeia dos índios yaguas, aprendendo a vida com o jovem tuxaua, que muitos sabia do floripendio e de ervas mágicas. Ao entardecer, saímos de canoa, com motor de popa, rumo a Choriaco, pequena povoação ribeirinha. Coisa de duas horas de viagem. Tempo de cheia. Subíamos o rio, rente à margem da floresta, já na metade do percurso, quando de repente, o temporal desabou. “Este vai ser dos medonhos”, disse tranquilo, lá da popa, onde controlava o motor, o meu amigo índio. Junto a ele, no chão da canoa, o seu filho pequenino, todo encolhido de frio. Lembro-me de que, antes de escurecer totalmente, do banco da frente onde eu ia, virei-me e vi o brilho intenso de seus dois olhos enormes. Era o pavor. No banco da proa, sem camisa, o caboclo Luis. Enfrentamos o temporal em silêncio: juntos, caladamente solidários. A correnteza crescia, a canoa balançava na crista das ondas, a chuva vergastava por todos os lados. Houve um momento em que não vimos absolutamente mais nada. Escuridão total. Repetidas veres a proa topava num tronco. O baque surdo, a canoa parecia que ia virar. Ramón inclinava o motor para a frente, para que as hélices ficassem fora da água, evitando o choque. Só os relâmpagos nos ajudavam, cortando o céu de um lado a outro: a luz fugaz iluminava um tronco enorme, uma árvore inteira derrubada, que já vinha quase em cima de nós. Morón, ágil e calado, desviava a canoa num golpe de leme. A escuridão era tanta que eu sequer enxergava a minha mão aberta a centímetros de meu rosto. Mesmo assim, em vários momentos tive a certeza de que o índio Morón conseguia enxergar alguma coisa das águas e da margem. Os seus olhos conseguiam ver. Ou os seus ouvidos, os seus sentidos todos, agudíssimos sabiam o que da canoa se aproximava. Porque de repente ele dava uma guinada para a esquerda, logo aprumava o rumo, ou diminuía a marcha do motor. E emitia um som rouco e grosso e breve com a boca entrecerrada, que incrivelmente se ouvia no meio de todos os fragores do temporal. Era como se ele fosse um parente das águas. A tempestade cessou antes que chegássemos a Choriaco. Pouco antes. E duas coisas que aconteceram agora eu sinto precisão de contar. A primeira é que mal dobramos a boca do Paraná de Choriaco, demos com várias canoas que vinham em nossa direção. Eram homens e mulheres daquele pedaço do mundo que nunca esquecerei: certos de que deveríamos chegar no começo da noite, nos sabiam surpreendidos pelo temporal, e iam ao nosso encontro, para nos salvar. Quando nos viram, foi um imenso e prolongado grito de alegria. A segunda coisa é que depois do temporal o céu acendeu as suas estrelas, perdão, todas as suas estrelas, que pairavam enormes, soltas no campo da noite.
Agredida, violentada, a floresta se defende. Defende-se antes de tudo com os seus elementos mais variados. Com o seu calor úmido, abafado. Com os cipós emaranhados, as touceiras de espinhos, as folhas que provocam queimaduras de brasa, as hastes que cortam como lâminas. Defende-se com poderes de encantamento. E como se de repente as árvores e arbustos mudassem de lugar, fechando o caminho por onde o homem avançou. São as palmas dos buritizeiros que silenciosa e bruscamente se entrelaçam inaugurando a noite em pleno dia da mata.
Mas a floresta sobretudo se defende com a sua fauna, que dela faz morada e cidadela. A fauna defende a flora e se defende. São as nuvens de mosquitos, os que atacam de dia e os que chegam com a noite. Os carapanãs, as mutucas sugadoras, os terríveis piuns diurnos. As aranhas venenosas, caranguejeiras cabeludas, o ferrão venenoso. Defende-se a floresta invadida com os insetos transmissores de malárias, de febres negras fatais. Com as formigas de fogo, as tocandiras, que sobem do chão e descem das árvores de cujas horas o homem corre em desespero. De repente, ao parar debaixo de um tachizeiro, o homem em poucos segundos se vê coberto de formigas dos pés à cabeça, sem nada poder fazer contra as ferroadas insuportáveis.
Defende-se com as suas feras: a onça suçuarana, a onça pintada, a maracajá. E principalmente com as suas serpentes, a mais temível de todas a surucucu, porque terrivelmente venenosa. Mas na beira dos rios, nas águas caladas da selva, nos centros da mata, lá está a fabulária sucuriju, a constritora.
Sucede que o homem, para vencer a floresta, derrota também a fauna. E tem na fauna mesma um grande objeto de sua cobiça. O animal tem carne para ser comida, e couro para ser vendido. Há milênios que os bichos do Amazonas vêm sendo abatidos, os da terra e os da água. Algumas espécies estão perto da extinção. O peixe-boi está beirando o seu fim. Nos últimos anos foi proibida a captura de tartarugas e a caça ao jacaré. Como cumprir a lei na vastidão da selva? Mais de 20 mil onças mortas anualmente. Os números são assustadores. Na década de 1960 saíram da Amazônia mais de um milhão de couros de jacarés. Venho de passar mais de um mês varando rios, paranás e furos do Baixo Amazonas. Ao contrário do que sucedia há pouco mais de dez anos, não vi nenhum jacaré. Transformados em bolsas, sapatos, cintos, eles caminham hoje pelas avenidas das principais cidades do mundo. Na luta contra a natureza, na última e porventura definitiva luta do homem contra a natureza, que se trava na Amazônia, o homem parece ganhar. Sem se dar conta de que, ao fim da cega peleja, ele poderá ser o grande derrotado.
Olha bem, leitor companheiro, olha devagarinho estas fotos, que captam, para perdurar no tempo, um momento da vida de uma tribo de índios da Amazônia. Não te chamo a atenção para a beleza, de fina qualidade poética. Não. Olha bem detidamente, porque estás, seguramente, diante de um dos últimos testemunhos do que ainda resta, na Amazônia, quase intacta em sua pureza, da vida dos seres humanos que primeiro habitaram esta selva e cuja raça está caminhando já muito perto do fim. A verdade é que no céu dos índios, apodrecido pelo furor branco, já se apagam as últimas estrelas.
Eles eram mais de um milhão quando chegou o colonizador europeu. De extermínio em extermínio, depois de quatrocentos anos, hoje eles não chegam a cinquenta mil. E desses, quase todos já perderam, feridos fundamente na essência dos valores de sua etnia, a sua própria condição de índios. Uns poucos ainda resistem, escondidos nos grandes centros da selva, fugindo ou evitando o máximo que podem o contato com os chamados agentes da civilização. O que desejam esses pequenos resíduos tribais ainda espalhados pelo chão da Amazônia, como de outros raros lugares do Brasil, é simplesmente poder ser e seguir sendo simplesmente índios. Querem o direito de ser o que são.
É esse direito que lhes foi impiedosamente usurpado pelo branco invasor, que apodrece os seus corpos com as suas doenças, e mata neles o que para o índio é o seu próprio centro de gravidade: o gosto e a alegria de viver. Degradação, palavra que, como estigma, queima a alma da raça que fundamentalmente nos formou.
Índio aculturado é índio degradado, disse o santo Noel Nutels, pouco antes de morrer, depois de toda uma vida dedicada à redenção do índio da Amazônia. A maioria abrumadora dos nossos índios enfrenta hoje essa degradação imposta pelo branco e que começa já no simples contato com o civilizado e que se prolonga sem nunca terminar, porque só acaba com a morte, durante o que a terminologia da proteção oficial chama de período de transição. É durante esse período que a tribo se vai perdendo de si mesma, que o índio vai deixando de ser índio, afastando-se dos seus ritos, dos seus mitos, dos seus valores tribais – enfim, de toda uma cultura construída durante séculos e que de repente é esvaziada de significado pela imposição inevitável dos padrões culturais do homem branco.
A perda de sua cultura conduz o índio à dependência e à submissão aos trunfos de uma cultura que nunca será a sua, mas da qual ele precisa para sobreviver. Aqui está o cerne do drama indígena: submissão que tem gosto de traição do próprio ser. De qualquer maneira e seja qual for o desenvolvimento do contato, o índio sai sempre perdendo. Não perde só a terra, que lhe é usurpada pelas frentes invasoras da sociedade nacional. Não perde só o vigor físico e a sua própria integridade. Perde o que era bom, o que era límpido, e é obrigado a incorporar o que é sujo, o que é ruim. Para poder sobrexistir, ele é obrigado a não confiar mais. A utilizar-se da mentira e do roubo, finas virtudes brancas. Dos brancos que da não aprenderam a conjugar o verbo amar. Sabe que está mentindo, que está degradado. Transforma a dignidade perdida em duro e silencioso rancor. Que vai degenerando, dor que punge calada até transformasse no que Darcy Ribeiro, valente irmão dos índios, chama de desengano. Desengano da vida, desgosto de ser gente.
O problema do índio é portanto um problema do branco. Na medida em que só começa a existir a partir do instante em que se dá o encontro com o civilizado. Antes ele era um ser livre, feliz, e glorioso. Dono de seu poder e de sua forca de viver e de conviver. Na sua tribo, ele é um integrante dela, como todos os outros, de qualquer sexo ou idade. Com os mesmos direitos à utilização coletiva dos rios, das matas, das fontes de subsistência. Com a simples mas poderosa alegria do trabalho coletivo que faz de um homem irmão de outro homem. Por isso precisamente é que o índio se degrada e caminha para o extermínio, ao participar de uma sociedade que se fundamenta na exploração do homem.
Que os yanomami, isolados dos brancos no alto da Amazônia, observem ainda por largos anos a sua límpida glória de viver.
Índios isolados, índios degradados e desculturados, integram o agrupamento humano da Amazônia, juntamente com o homem típico da região, o caboclo ribeirinho, o caboclo das cidades, o brasileiro de outros estados que aqui vivem e os homens de tantos países do mundo que, cada dia mais numerosos, habitam a Amazônia. Fazem parte do grande complexo humano, físico e geográfico da planície, que abrange os rios, árvores, animais terrestres e aquáticos, o solo, as várzeas, as plantas aquáticas e, por fim mas não por último, o subsolo amazônico, com todas as suas riquezas.
É o ecossistema da grande Amazônia.
Já não se esconde mais a tensa inquietação a propósito do futuro da Amazônia, cujo equilíbrio ecológico está fundamente ferido. Por isso quero contribuir, com este trabalho (elaborado no interior do Amazonas, nas margens do Paraná do Ramos que banha a pequena Barreirinha, onde nasci, ao lado do rio Andirá, morada dos últimos resíduos dos índios maués), para a causa da Amazônia. Quero que ele sirva de testemunho e sobretudo de advertência.
A Amazônia, que só tem feito servir ao homem, vem sendo explorada e ocupada de maneira insensata, desordenada e assustadoramente predatória. A denúncia é feita por cientistas que sabem o que dizem. É claro que a Amazônia precisa ser ocupada e desenvolvida. Mas sempre levando em conta os fatores ecológicos e a sua necessária harmonia. A floresta tem que ser utilizada, mas humanamente. Utilizada, e não degradada.
É momento de lembrar que cinquenta por cento do oxigênio que a humanidade respira é produzido pela floresta amazônica. Ela não para de trabalhar, dia e noite, para servir à necessidade fundamental do homem: o ar que ele respira. Mas é esse mesmo homem que não se cansa de destruir a floresta generosa. Guardemos este número: mais de 10 milhões de metros cúbicos de madeira estão sendo extraídos anualmente da nossa floresta. Isto quer dizer mais de 3 milhões de árvores. Sem contar os outros tantos milhões que foram necessariamente abatidos para a construção das grandes estradas transamazônicas nos anos recentes. É assustador o desmatamento da floresta amazônica, que constitui, faço questão de repetir, a última grande reserva vegetal do planeta. O desflorestamento é cada vez mais intensivo e indiscriminado. Já houve, inclusive, a (tentativa de) utilização do herbicida Dioxim, usado na guerra do Vietnã, que mata a clorofila. Empresas multinacionais, empenhadas na criação de gado bovino na Amazônia, estão destruindo pelo fogo grandes extensões de floresta para transformá-los em campos de pastagem. Alguns incêndios – os jornais divulgaram – foram tão vastos que chegaram a ser detectados pelos satélites artificiais. Sabe-se estranhamente pouco sobre o que se passa nos limites do maior latifúndio do mundo, abrangendo dois milhões e duzentos mil hectares, ao longo das margens do rio Jari. Onde o desflorestamento tem sido também intenso. Houve inclusive substituição da floresta.
A Amazônia já não é mais a região misteriosa de antigamente. Muito dela ainda está por ser conhecido. Mas de muito já se sabe. Não é a Manoa del Dorado, o rio do Ouro, o País das Amazonas. Também já não se trata apenas do paraíso nem do inferno verde. É a selva com a sua exuberância de riquezas naturais e os seus recursos minerais que despontam cada dia maiores, em descobertas que se sucedem. O ferro da Serra dos Carajás, a bauxita do Trombetas. São reservas calculadas em bilhões de toneladas. O subsolo se mostra cada dia mais rico. Mas o solo se confirma pobre. E mais empobrecido se torna com a floresta derrubada. É preciso trabalhar ainda muito para se chegar ao conhecimento e domínio de técnicas que favoreçam o uso correto do solo. E preciso ocupar a Amazônia para ajudá-la a viver, a fim de que ela possa ajudar melhor o homem, quero dizer, a humanidade.
Fim de tarde de junho deste ano.
Acabo de entrar no barco atracado no lugar chamado Simão, na margem do belíssimo rio Andirá, onde se abriga uma pequena aldeia dos índios caterê, denominação recente da primitiva nação maué. Guardo ainda o gosto forte do guaraná que, em cuia coletiva, foi servida à despedida por uma índia que o preparou, ralado em língua de pirarucu.
O barco se afasta devagar. Do alto da proa, descubro de repente, o olhar forte da índia menina sentada no barranco. Aceno-lhe com a mão, ela demora a responder. Nos seus olhos apertados, cresce um brilho que me perturba, onde palpitam misturados a força e o desamparo. De repente, me lembro do olhar gravado na última foto deste livro, foto que demoradamente contemplei tantas vezes. É o mesmo olhar da indiazinha do barranco. Poder e desamparo, uma espécie de esperança amedrontada. É o olhar, como o da própria Amazônia, de alguém que sente precisão de amor.
Barreirinha, 1978









