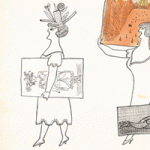Sunset Park, o livro de Paul Auster que sai agora no Brasil, é a história de uma casa no Brooklyn – uma casa abandonada, ocupada ilegalmente por quatro amigos. Ao redor da história dessa casa gravita uma série de personagens que, mais cedo ou mais tarde, entrarão em contato.
Auster, como de hábito, tenta recuperar na ficção o ritmo da vida cotidiana, organizando a arbitrariedade dos encontros entre as pessoas, traduzindo aquilo que uma vez chamou de “música do acaso”.
Há pelo menos duas linhas de ação que organizam a obra de Auster: os livros multi-focais, nos quais as histórias se articulam e se interpenetram, e os livros de foco restrito, que contam geralmente com um personagem principal que guia a história. Dentro desse segundo campo, há o desdobramento dos livros mais imaginativos de Auster, aqueles com os quais flerta com o fantástico, com o distópico e com o alegórico – como vemos em Timbuktu, No país das últimas coisas e Viagens no scriptorium.
Sunset Park, no entanto, oferece uma cena que serve como uma espécie de cristal de memória para a obra de Auster, na medida em que reúne em si uma densidade inaudita de imagens e lembranças, operando como uma suma, um aleph.
Uma criança mostra ao seu pai um trabalho de literatura que acabou de fazer para a escola. É um exercício de crítica literária sobre o livro de Harper Lee, O sol é para todos. Depois de ler, o pai fica assombrado com a sensibilidade do texto, a riqueza de detalhes que o menino conseguiu apreender e a sutileza que conseguiu empregar na junção de tudo que observou. O pai, como escreve Auster, “estava impressionado com o coração que era capaz de propor uma conclusão tão profunda”.
Tanto a ação da criança quanto o assombro do pai se repetem continuamente nos livros de Auster, disfarçados nos mais variados avatares. A atenção, contudo, está sempre nesse momento de revelação dos liames que ligam pessoas e eventos, livros e cidades, homens e mulheres, tempos e espaços.
A imagem da pessoa que oferece uma leitura, uma interpretação, um pouco de si que encontrou em um texto literário (ou uma imagem, um filme, uma canção): essa é a tônica que marca a produção de Auster. E, depois do encontro, há sempre a tentativa de expressar esse contato em palavras, de comunicar, ainda que de forma falha e breve, esse contato transformador.
Mais do que o resultado, importa o gesto de captura dos elementos. Mais do que a imagem final, importa a montagem que se faz daquilo que se separa, pois é aí que se revela a subjetividade, a individualidade.
Na Trilogia de Nova York, há um homem que passeia pelas ruas e o trajeto de seu corpo forma letras no mapa da cidade, e o detetive que o segue, depois de dias pensando sobre a aparente falta de sentido desse trajeto, descobre que há, ali, naquele aparente descaso, uma mensagem que lhe diz respeito diretamente.
Em O livro das ilusões, um homem desesperado encontra um futuro para si ao tentar elucidar os mistérios da vida de um ator cômico do cinema mudo – e assiste seus filmes incontáveis vezes, até que o filme lhe fale alguma coisa, até que alguma mensagem possa ser extraída daquilo que, inicialmente, era uma estranheza.
A aparente facilidade da escrita de Auster, sua fluidez, mascara e ao mesmo tempo convida ao mergulho nas camadas profundas, nos elementos que se repetem, para que a leitura seja sempre uma descoberta, como acontece com aquela criança que mostra seu trabalho para o pai.
Para Auster, a leitura é uma descoberta de si, o campo do auto-conhecimento por excelência. Os elementos que se repetem, que dão coesão a uma vida que se coloca diante da literatura, dizem respeito diretamente ao leitor – que depois se transforma em escritor.
Por conta da sensibilidade dessa poética, fica evidente que seus melhores livros são aqueles que, em alguma medida, levaram adiante o cruzamento entre autobiografia e ficção – A invenção da solidão, Da mão para a boca, e também A trilogia de Nova York e Leviatã.
Há também o projeto que Auster desenvolveu quando foi convidado a fazer um programa de rádio nos Estados Unidos: ao invés de escrever, propôs aos ouvintes que enviassem as suas histórias de vida. Recebeu milhares de textos, leu centenas deles em seu programa e, no fim, publicou uma coletânea com as melhores histórias, Achei que meu pai fosse Deus. O escritor opera como um catalisador de vozes anônimas – uma espécie de antena poundiana ressignificada, programada para receber as baixas frequências e não aquelas das altas esferas da cultura.
É por isso que, nos agradecimentos de Sunset Park, está o nome de sua filha, Sophie Auster, responsável pelo texto sobre o livro de Harper Lee, um texto escrito anos atrás, quando ainda estava na escola, um texto que revelou ao seu pai, o escritor, quea literatura, mais do circular pelas escolas de pertencimento, pelos modernos, pós-modernos ou hiper-modernos, circula pelo tecido que forma as vidas comuns.
Uma espécie de espaço utópico no qual basta contar uma história, pensar sobre as pessoas e suas relações, sobre o acaso dos encontros, sobre o absurdo das idas e vindas, em uma sorte de pensamento mágico, de organização do caos, de luta constante com a aleatoriedade da existência.
Lendo seus livros, fica evidente que o projeto de Auster não é dar conta de uma escola, ou dar conta de uma série de escolhas que possam determinar ou não seu pertencimento à vertente pós-moderna do romance norte-americano contemporâneo. Lendo seus livros, fica claro que seu projeto é contar (capturar, montar) histórias, refletir sobre a natureza humana em seus momentos extremos, observar a passagem do tempo e suas marcas sobre os sujeitos e suas escolhas.
“Almas avariadas”, como escreve Auster em Sunset Park. Almas avariadas que se encontram dentro do espaço e do tempo da ficção. Leitor e escritor, como afirmou Auster em entrevista recente, escrevem juntos o livro e, a partir disso, constroem uma intimidade que pode durar anos. Algum leitor insistente de Auster certamente pode afirmar que o conhece, pode afirmar que lhe dá imensa satisfação ler seus livros, participar das histórias que ele coloca em seus livros (que colocam juntos em seus livros, afinal).
Essa costura entre vida e ficção está principalmente na forma de seus livros: a montagem que faz dos trechos, a concatenação das revelações, todos esses elementos formais garantem, sem dúvida, a fluidez de suas tramas, mas também garantem esse difícil ponto de co-existência entre leitor e escritor.
* Kelvin Falcão Klein é autor de Conversas apócrifas com Enrique Vila-Matas (Ed. Modelo de Nuvem, 2011).
* Na imagem que ilustra esse post: o escritor norte-americano Paul Auster.