É possível constatar que o cérebro anda ganhando mais atenção dos escritores de ficção nas últimas décadas. Faz todo sentido que isso aconteça, já que a ficção sempre lida com as imagens que o homem faz de si mesmo, as metáforas de identidade mais correntes e convincentes de cada época, e a neurologia vem nos dizendo há algum tempo que todo o espetáculo assombroso da nossa consciência acontece, ao que tudo indica, dentro do nosso cérebro.
Toda a discussão milenar sobre dualismo, sobre mente e corpo, toda a especulação se a nossa alma se localiza no coração ou nos pés, tudo isso parece perder a relevância diante dessa equivalência clara e inequívoca: nós somos os nossos cérebros. Como se a neurociência estivesse dizendo: tome isso, alma e subjetividade! Joguem fora esses pneumas aí, esses fantasminhas camaradas, esses aparatos psíquicos cheios de nomes em latim e alemão. Nós finalmente encontramos o que importa, e ele fica aqui pipocando de forma mambembe e descontínua, eventos bioquímicos num bando de carne enrodilhada que agora vamos recortar, cutucar e observar o funcionamento com a ressonância magnética. Logo mais chamaremos vocês das humanidades moles para contar o que é que faz o quê.
Consenso científico ou não, o senso comum ainda não mastigou e engoliu muito bem a ideia de que nossa consciência acontece no cérebro. Do contrário, falaríamos muito mais do nosso córtex, hipotálamo, terminações nervosas e neurônios do que de nossa alma, dos nossos sentimentos e da nossa subjetividade.
Talvez por isso o cérebro, por enquanto, costuma dar as caras na ficção justamente nas fissuras, nos distúrbios, nos momentos onde o cérebro falha e podemos ver as câmeras e microfones por trás do espetáculo da consciência. Os exemplos se acumulam: temos o pai com Parkinson em As Correções, de Jonathan Franzen; o pai com Alzheimer no Diário da Queda, de Michel Laub; delírio de Capgras, no The Echo Maker, de Richard Powers; doenca de Huntington no Sábado, de Ian McEwan. Essas enfermidades costumam aparecer nos romances de forma parecida, ou seja, surgem essencialmente como uma alegoria para o fato da nossa identidade e memória serem todos dependentes dos eventos químicos correspondentes do nosso cérebro.
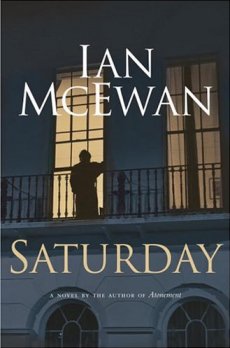
O escritor americano Marco Roth publicou, em 2009, na revista nova-iorquina N+1, um texto sobre a ascensão desse neuroromance na ficção anglo-americana (onde fala de vários outros livros que também partem de doenças neurológicas). O autor conclui que esse interesse não representa exatamente um novo e excitante território para a literatura, mas sim uma curiosa resignação dos escritores de sequer tentar lidar com o que resta da humanidade diante dessas descobertas, quase como se houvesse uma incapacidade da ficção de reconciliar as possibilidades da nossa atividade imaginativa com a ciência neurológica.
Depois de praticamente desistir da religião, da moral e da descrição da sociedade, tudo que a ficção tinha no seu território de exploração e definição era o senso de si, o famoso “self”, a nossa identidade (o que quer que ela seja, a alma ou uma ficção). Esses romances parecem querer entregar esse ultimo posto de resistência, como quem admite que, afinal de contas, também esse negócio de identidade e personalidade são apenas mais hipostasias malucas e desnecessárias para a futura ciência absoluta do cérebro localizar e descrever.
De fato, existem poucas coisas no mundo mais assustadoras do que essas doenças neurológicas. Alzheimer e Parkinson corroem os nossos instrumentos mentais a ponto de aparentemente destruir qualquer senso possível de identidade; Capgras desliga a carga emocional da nossa imaginação visual, fazendo com que tenhamos certeza absoluta de que os nossos entes queridos são impostores (robôs, atores, simulacros alienígenas). É no mínimo compreensível que os retratos ficcionais desses distúrbios sejam desesperançosos.
O que essas perspectivas parecem ter em comum é a vontade de desmistificar a humanidade, dizer que não existe mistério nenhum na consciência, é apenas um show bioquímico complexo e artificioso. A voz que faz tal afirmação geralmente é vista terminando o trabalho começado por Galileu e passando por Darwin e Freud. Não somos o centro do universo, não somos criados à imagem de Deus, não somos os animais racionais e, desculpa te dizer, não somos nem alma coisa nenhuma.
O trabalho é de fazer uma redução causal absoluta da nossa existência, de forma a retirar qualquer mistério, qualquer deslumbramento subjetivista privilegiado a respeito da nossa grandeza ou distinção enquanto bichinhos andantes na Terra. A voz que não diz apenas: nós somos cérebros, mas que diz, com ênfase: nós somos apenas cérebros, e nada mais.
Mas existe um sentido no qual a descrição bioquímica da nossa consciência é apenas mais uma serie de metáforas descritivas formidáveis para o fato irredutível da nossa perspectiva individual. A consciência não deixa de existir apenas porque você explicou como ela funciona (e, aliás, cabe lembrar, qualquer neurocientista sério é o primeiro a admitir que ainda não se chegou nem perto de uma descrição exaustiva de como funciona o cérebro, parece que tudo que nós temos ainda são mapas rudimentares dos tipos de atividades que ele consegue desempenhar).
Não é necessário ter essa perspectiva reducionista e negativa diante das maravilhas da neurociência. Não precisamos ficar deprimidos com o fato de que a consciência acontece no cérebro. Também é possível se maravilhar continuamente com o absurdo extraordinário que é esse monte de carne dobrada, esse wetware aparentmente gambiarrado pela evolução para conseguir criar metáforas, desenhar bichos na parede, construir aceleradores de partículas, sofrer visões do divino e, sim, eventualmente, até vir a entender o seu próprio funcionamento.
Ainda não tivemos (que eu saiba) nenhuma tentativa seria de incluir o cérebro dentro de um romance sem que ele estivesse defeituoso, morrendo, fazendo você esquecer o nome dos seus filhos ou achar que a sua mulher é uma impostora. Claro que o cérebro pode falhar de forma horrível, dolorosa e desesperadora, e faz sentido que a ficção capture isso da forma mais honesta possível. Porém, é no mínimo parcial querer tomar justamente os momentos onde o cérebro não funciona direito para representar a nossa identidade enquanto espécie. Na maior parte do tempo, o show da consciência funciona, e se revela um espetáculo absurdamente convincente. Tanto é assim que as palavras que tínhamos para a consciência durante milhares de anos eram metáforas contínuas e inteiriças, de substâncias resilientes e unificadas.
Alguns autores gostam de falar da consciência como se ela fosse uma ilusão. Mas só faz sentido chamar de ilusão algo que não existe de verdade, e a consciência em si obviamente existe. Não há como negar que temos no mínimo isso aqui (que acontece enquanto eu escrevo e enquanto você lê). Uma maneira inofensiva de chamá-lo seria a perspectiva de um organismo em busca de homeostase.
O neurocientista português Antonio Damásio faz um relato bem interessante da consciência no seu livro E o cérebro criou o homem, que partilha um pouco desse tipo de perspectiva. Nele, o autor chama a consciência de “uma descrição não solicitada de eventos – o cérebro comprazendo-se em responder perguntas que ninguém fez.” De que forma nós vamos nomear e valorizar essa perspectiva? Qual o lugar que vamos arranjar para essa “descrição não solicitada de eventos”? Esta é a grande questão. E a ficção pode, sim, se quiser, fazer parte da resposta.
* Vinícius Castro é autor do romance Os sinais impossíveis (Geração Editorial, 2010)









