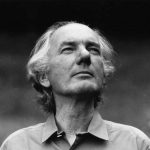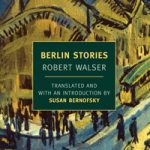Cena do jogo Skyrim (2011)
Os videogames têm gozado, nos últimos anos, de um raro prestígio nos meios culturais. Não mais são associados a jogos de criança e vem sendo considerados veículos promissores para a produção artística. Até mesmo Roger Ebert, o famoso crítico norte-americano, voltou atrás em sua declaração feita em 2010 de que “videogames nunca poderão ser arte”. Pouco a pouco, os jogos eletrônicos abandonam seus espaços restritos em cadernos de informática e invadem as páginas (online ou off-line) de discussão cultural. Como era de se esperar, com a introdução de uma nova mídia, surgem várias e várias tentativas de compará-la a outras. O que aproxima e afasta os games do cinema? Por que quase toda tentativa de adaptar um jogo para o cinema fracassa, se ambos os meios se valem de imagem, som e roteiro? E quanto à literatura, seria possível traçar alguma relação entre meios tão distintos de narrar uma história?
Diversos livros investigando questões narratológicas dos jogos foram publicados recentemente, mas, com o avanço constante da tecnologia, as fronteiras do que se pode fazer em um jogo têm se expandido vertiginosamente. Enquanto alguns games mais tradicionais ainda usam diversos recursos do cinema, como a cutscene, que interrompe a ação para rodar uma espécie de “vídeo” que avança a história, outros têm explorado justamente o que torna esta mídia única: a jogabilidade. Esse redirecionamento de foco surge porque a forma dos games é incompatível com as narrativas tradicionais. Nas palavras de Jonathan Blow, criador do espetacular Braid, “as histórias [tradicionais] funcionam através da passagem do tempo e da progressão narrativa. Os jogos possuem desafios, o que frustra a passagem do tempo e a progressão narrativa. A história quer avançar, e a ?força de atrito’ do desafio tenta segurar a história. Esse conflito é central para o jogo narrativo, e os desenvolvedores de games tentam resolver esse problema fazendo da história uma espécie de recompensa para um desafio cumprido. (…) A natureza da mídia dos videogames impede que as histórias deles sejam boas”. Jonathan Blow aponta que os jogos eletrônicos ainda não resolveram questões formais bastante básicas, ou seja, estamos diante de uma forma de arte bastante imatura. Parte da culpa residiria no fato de que os jogos ainda sofrem com a influência do cinema, e precisam urgentemente se libertar disso, concentrando-se naquilo que os torna únicos: a interação, a mecânica da jogabilidade.
Apesar de todo este discurso, é curioso observar que Braid, o jogo criado por Jonathan Blow, ainda depende muito de artifícios literários. O personagem principal parte em busca de uma princesa, à moda de Super Mario, e vai coletando peças de um quebra-cabeça que reconstroem a história de seu relacionamento. Ao invés de pular em monstros, o protagonista manipula o tempo, causando distorções temporais como um fast-forward ou uma sombra do que foi feito antes, para superar os obstáculos. Antes de cada “mundo”, porém, o jogador passa por livros que explanam, não sem certo lirismo, a trama. Graças ao texto escrito, aprendemos que Tim cometeu algum erro no passado e sua namorada/princesa nunca o perdoou (por isso o seu interesse em manipulação temporal, em corrigir os equívocos do passado etc.). E é através de recursos textuais similares que Braid, ao final, abrirá sua história para uma segunda leitura completamente diferente (de que o jogo não seria um conto de amor frustrado, mas uma releitura da história da ciência e o surgimento da bomba atômica). Ou seja, por mais cativante e inovador que seja Braid, ele também está preso a recursos narrativos tradicionais.
***
Um exemplo mais interessante para pensar nas relações entre a narrativa literária e a lúdica é o caso de Skyrim, quinto jogo da série The Elder Scrolls, que foi lançado no mês de novembro e está arrancando resenhas positivíssimas de quase todos os críticos. Calcado em dezenas de estereótipos de romances medievais, o jogo traz dragões, guerreiros, elfos, heróis e assim por diante. Trata-se de um descendente direto dos RPGs inspirados nas obras de Tolkien e em todas as imitações baratas que os livros do escritor inglês geraram. No entanto, a graça de Skyrim não reside, necessariamente, em desbravar calabouços e embarcar em aventuras empolgantes. O seu diferencial está justo no que ele se afasta das narrativas tradicionais de fantasia: a liberdade.
Muitos críticos comentaram que Skyrim é o tipo de jogo que rouba a sua vida. Mesmo jogando 50 horas, você teve acesso a apenas uma fração do que Skyrim pode oferecer. O game coloca o jogador em um mundo aberto gigantesco, repleto de cidades cheias de coisas para fazer (você pode arranjar um emprego, se juntar a uma guilda, auxiliar uma dona de casa que sofre com uma invasão de ratos, um garoto que perdeu seu pai…), terrenos pedregosos ou cobertos de neve para explorar. O jogador também pode definir seu personagem até os mínimos detalhes: da cor de pele ao formato dos olhos. Há quem prefira criar um personagem do sexo oposto, de uma raça completamente estranha, enquanto outros, como eu, preferem um personagem mais neutro, alguém que posso imaginar como sendo uma versão mais corajosa minha.
Sim, há um enredo, existe uma trama principal que você pode seguir – alguma bobagem envolvendo reis e dragões – e outras dezenas de tramas menores sem relação direta com o conflito central. Mas, em todas as horas que joguei Skyrim, descobri que meu prazer com o jogo não passa por seguir essas narrativas. Pelo contrário, gosto de caminhar sem rumo pelo mundo: descobrir florestas gélidas repletas de aranhas venenosas; saltar cachoeiras e nadar contra a correnteza para coletar uma flor rara; entrar em uma mina insalubre; invadir a fazenda de um camponês e roubar repolho. Caminhar, caminhar, caminhar. Dia e noite, sol e chuva (o tempo e o clima variam de forma bastante impressionante), sempre sem rumo, conferindo o mapa apenas por curiosidade. Olhar o céu noturno e me deparar com uma aurora boreal.
É nesses momentos que penso que Skyrim se afasta por completo das formas tradicionais de narrativa, especialmente da literária. Entretanto, nas minhas últimas perambuladas, passei a pensar constantemente em Robert Walser, o escritor suíço. Walser, assim como o alemão Sebald, sempre foi um grande caminhante. Vários de seus contos apresentam um narrador que passeia solitário por vilarejos e montanhas, e encontra viajantes pelo caminho, ou apenas testemunha as mudanças na tonalidade do céu. São personagens apagados e sem voz, andarilhos sem rumo ou destino. Não é à toa que Walser morreu justamente assim: caminhando sozinho na neve.
Skyrim, para mim, se tornou uma espécie de simulador de Robert Walser. Penso bastante no escritor suíço quando, depois de muito perambular, acabo entrando em uma cidade e encontrando outras pessoas. Lembro-me de tudo que testemunhei nas minhas caminhadas e sinto, como no poema de Walser, “saber tanto, ter visto tanto e não dizer nada, absolutamente nada”.