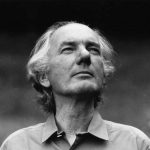Produz algo de inesperado encontrar Academia n. 4, de Tarsila do Amaral. Comecemos pela data, que para qualquer estudante é reconhecível como um marco da arte brasileira, 1922, o ano da Semana de Arte Moderna. Ano em que, supostamente, a partir do Teatro Municipal de São Paulo, teriam sido lançados os projéteis que estourariam todas as barreiras da arte convencional e inscreveriam as novas diretrizes da arte e da cultura brasileiras, guiadas pelas balizas do “novo”, das vanguardas, afirmando “Nós temos talento!”, ao som do coaxar dos sapos de Manuel Bandeira, e proclamando: “Carlos Gomes é um burro”, “Chopin é um tocador de Berimbau”, “Almeida Júnior não pagava o pandeiro”, “Bernardelli é um fazedor de moringas” e “Coelho Netto não lava os pés” [1].

Os antecedentes e consequências do acontecimento são bem sabidos e profusamente analisados pela bibliografia para que tenham de ser tratados aqui. Certamente não se trata de afirmar o caráter inaugural da Semana de 22, cuja própria alcunha moderna pode ser discutida, dadas as diversas acepções e usos do termo moderno no contexto em que o evento se produziu. O que cabe ressaltar, entretanto, é o que a imposição desse evento sobre as narrativas da arte moderna brasileira deixa de lado, ou encobre: características mais complexas ou tramas mais sutis das trajetórias de seus protagonistas, e do próprio processo de constituição disso que chamamos arte brasileira.
É na tentativa de coser melhor essa trama, ou de pelo menos seguir alguns de seus fios soltos, que podemos nos aproximar da tela de Tarsila do Amaral e procurar nos avizinhar desse seu aspecto aparentemente inesperado. Um nu, feminino, feito em estúdio. Mais precisamente, um estudo de mulher, realizado numa escola para mulheres, como se vê pelas próprias personagens da tela, algo inexistente no Brasil dos anos 1920. Onde teria sido pintado? O ambiente retratado nos sugere que muito provavelmente tenha sido feita na Académie Julian, renomado centro de formação artístico de Paris, fundado por Rudolf Julian (antigo aluno de Léon Cogniet e Alexandre Cabanel) em funcionamento desde cerca de 1867, por onde passaram inúmeros artistas das mais variadas estirpes, aberto à aprendizagem feminina desde 1873, com turmas exclusivas para mulheres a partir de 1880, ano em que a Julian instalou uma sala anexa àquela mantida na Passage des Panoramas, à rue Montmartre, em Paris. Quando a artista a escolheu frequentar, justamente naquele período da efervescência modernista, a escola já era um enorme empreendimento, com mais de nove ateliês em vários locais da cidade, quatro deles exclusivos para mulheres [2]. Sublinhemos – escolheu frequentar. Tarsila do Amaral partiu para Paris em 1920 para aperfeiçoar seus estudos artísticos. Foi com recursos próprios, sem estar obrigada a retornar nenhuma prova de seus progressos para mecenas brasileiros, seja a Escola Nacional de Belas Artes, ou o Estado de São Paulo, costumeiros financiadores de bolsistas no exterior, que exigiam uma formação pautada pelo ensino das academias, fossem elas públicas ou privadas (basta consultar os regulamentos dos envios para perceber as necessidades a que os artistas eram obrigados, em plenos anos 1920, como a continuar a enviar cópias de obras consagradas, estudos de nus – as chamadas academias – para só depois de cumpridas essas etapas poderem enviar composições “originais” de sua criação, como faziam desde a criação dos prêmios viagem pela Academia Imperial de Belas Artes no século XIX). Sobre a estada de Tarsila na capital da pintura, a bibliografia costuma lembrar apenas de seu contato com aqueles que cimentarão o caminho para sua consolidação como uma artista vanguardista: Fernand Léger, André Lhote e Albert Gleizes, todos ligados às tendências cubistas então em voga em Paris. Mas Tarsila preocupou-se também em dar continuidade a uma formação nos moldes tradicionais, insistindo no aprendizado da representação do modelo vivo, como testemunha Academia n. 4. Fez sem nenhuma obrigatoriedade, por escolha pessoal. Assim como escolhera em São Paulo, como professor, em 1917, a epítome da pintura dita “acadêmica”, Pedro Alexandrino [3], a quem foi ligada por laços de amizade e respeito por toda a vida, e quem, diga-se de passagem, Anita Malfatti também escolheu para mestre em 1919. Por essa razão encontramo-la nos aposentos da afamada Julian fazendo o mesmo exercício das pintoras anônimas de seu quadro, observando um nu feminino.
A artista escolhe um recorte, um corte do ateliê para a composição da sua tela. Deixa entrever o trabalho das colegas enquanto registra o seu. Apanha sua modelo de costas, sentada num banco, quase apoiada por um dos pilares que deveria sustentar o alto teto zenital da sala (costumeiramente iluminadas do alto, como observamos na tela de uma antecessora sua, No Estúdio, de Marie Bashkirtseff, de 1881, hoje no Museu Estatal de Dnipropertrovsk, ou naquela de Jefferson David Chalfant, O ateliê de Bouguereau na Académie Julian, de 1891, do Museu de Belas Artes de S. Francisco, além das inúmeras fotografias de época). Nas paredes, como que formando um grande mata-borrão, reproduções de obras de arte, desenhos, ou as próprias obras para serem observadas e comentadas pelos professores e colegas. Estas, definidas em poucas pinceladas geometrizadas e de colorido bastante pautado pelo contraste simultâneo [4] (como de resto toda a tela), estão absortas em suas tarefas, cada qual atenta ao seu cavalete, destras – senão adestradas – na tarefa de capturar a modelo de corpo esguio junto ao pilar, ou outra que escapa ao enquadramento da companheira brasileira. Em alguns traços de cor Tarsila as define, fazendo-as destacar progressivamente do fundo indistinto do salão. Da mais jovem, retratada num escorço que deixa perceber o corte moderno dos cabelos, como o da modelo no primeiro plano, à aparentemente mais velha, cuja massa corporal mais densa é traduzida em polígonos irregulares de cor, vermelho e verde, contrastantes, novamente, e conectada ao primeiro plano pelos toques de matizes azuis iguais aos da capa repousada na lateral direita, escapando da tela (cabe ressaltar que, embora o contraste simultâneo seja o princípio compositivo do quadro, Amaral não o aplica exatamente no sentido dos impressionistas, nem de Gauguin, nem mesmo de Matisse, mas sim mesmo daquela maneira meio difusa dos acadêmicos de então – não usa o contraste como tal, mas como uma das estratégias para compor o modelado e a dinâmica da composição, dos pesos e dos pontos de atração do olhar; ainda assim rebaixa o tom geral para que as cores não sejam excessivamente contrastantes – ela resolve opor a cor quente com a fria, mais do que as complementares, por exemplo. Usa o azul e o vermelho, em vez do vermelho e o verde, que aparecem em menor quantidade e não numa matiz pura e por demais luminosa).
Aqui temos mais um aspecto inusitado que nos traz esse trabalho de Tarsila. Tal uso da cor e caráter da pincelada não é o que estamos acostumados a reconhecer em seu trabalho. Desde Estudo (La Tasse, 1923), ou A caipirinha, 1923, o que veremos serão grandes planos de cor em que a pincelada, como aspecto construtivo da imagem, estará quase sempre ausente, quando muito minimizada aqui e ali num modelado difuso que a artista utiliza para dar corpo às suas figuras “estranhas”, muito pouco encarnadas [5]. Mas é ainda mais inusitado notar que não é esse o aspecto construtivo da pincelada que ela escolhe aplicar na figura do primeiro plano, tratada de modo diferente das demais que aparecem na composição. Embora o colorido se assemelhe, na aplicação quase direta de matizes diversas para atingir o efeito de cor “luminosa”, em que mais uma vez o contraste simultâneo é o princípio compositivo, a pincelada é diversa e substancialmente “não-construtiva”: ora é curta e rápida, em algumas zonas do corpo, ora é mais untuosa, grossa, quase circular. Pode-se depreender a sucessão de inúmeras camadas a fim de constituir um efeito de volume, não muito distante, talvez, do que fazia Pedro Alexandrino nas áreas mais iluminadas de suas naturezas-mortas, substituindo aqui o branco do professor pelo azul, o rosa e o creme. Mas há ainda um terceiro tipo de pincelada, mais sub-reptício, que é aquele que de fato define os contornos e portanto a forma da modelo, esta sim uma pincelada que de certa maneira estará presente em obras posteriores da artista (que passará a incluir contornos precisos em diversas de suas telas, trabalhando compositivamente com esse elemento, como em A cuca, 1924, ou São Paulo, 1924).
A tela, composta de planos que “caminham” em direção ao espectador e àquela capa repousada no gancho da parede que corta a visão da pintora, é “amarrada” pelos azuis e vermelhos dinamicamente dispostos em progressão sucessiva, das figuras femininas do fundo, à capa azul e à sombra vermelha do braço direito da modelo. As verticais e horizontais, dos bancos, da linha dos trabalhos pendurados na parede, dos corpos das colegas, da modelo, do pilar; as diagonais dos cavaletes compõem as linhas de força que complementam a dinâmica do quadro. O branco azulado da tela crua é o detalhe final que faz destacar o corpo do primeiro plano, rebatido na linha rítmica da curvatura da cintura, que ressoa na coluna da jovem.
O que temos aqui? Pintura acadêmica? Não, se tivermos em mente a pintura da Academia francesa de David ou de Ingres. Sim, se entendermos por pintura acadêmica um rol de experimentações e formas de pintar muito mais amplo do que os críticos e historiadores da arte modernista fizeram-nos crer até agora. Pois a academia há muito estava aberta aos experimentos que os artistas considerados “não-acadêmicos” vinham fazendo pelo menos desde os anos 1860 na Europa. Há muito as conquistas da pintura impressionista e seus derivativos pós-impressionistas já haviam ultrapassado as portas das instituições de ensino e de seus salões e se tornado vocabulário comum ao acesso de todos os pintores. O que Tarsila fazia aqui parece ser um ensaio ou resumo de aspectos desse vocabulário, testando, numa mesma tela, várias de suas possibilidades, até mesmo vertentes opostas ou antagônicas. A futura membro do “Grupo dos Cinco”, mas também do “Grupo Almeida Júnior”, não parece querer fazer tabula rasa do passado, como quiseram fazer crer muitos dos apologetas do movimento moderno. Ao contrário, Academia n. 4 parece um esforço por apreender num só golpe, num vasto gole, décadas de um processo artístico do qual Tarsila não havia participado, mas do qual queria fazer parte, ou pelo menos assenhorar-se. Sugere-nos, assim, uma interpretação mais atenta daquilo que viria a ser o princípio fundamental da sua geração, aquela que escreveria seu manifesto, em Piratininga, no Ano 374 da deglutição do Bispo Sardinha [6].
* Fernanda Pitta é aluna do doutorado em artes visuais da ECA-USP
NOTAS:
[1] São os dizeres do cartaz-charge da Semana de Arte, feito por Belmonte e publicado na Revista D. Quixote, em 1922.
[2] Importante lembrar que a principal dificuldade encontrada pelas artistas para ingressar na carreira como profissionais era o tabu acerca da prática do modelo vivo, considerada por muitos indigna de ser realizada por mulheres “respeitáveis”. Havia poucas escolas onde elas podiam praticar livremente esse estudo, a Julian era uma delas. A respeito da Académie Julian e da viagem de artistas brasileiros para Paris, ver o artigo de Ana Paula Simioni, de onde colho essas informações: “A viagem a Paris de artistas brasileiros no final do Século XIX”. Tempo Social, vol. 17, n.1, São Paulo, junho 2005, pp.343-366. http://www.scielo.br/pdf/ts/v17n1/v17n1a14.pdf. Tarsila do Amaral também frequentou o ateliê de Émile Renard, a partir de 1922. Embora não tenhamos provas de que a tela em questão tenha sido pintada na Académie Julian, o ambiente retratado em muito se assemelha com aquele dos ateliês da Julian. Com relação ao ateliê Renard, não temos informações de como fosse organizado, mas muito possivelmente não devesse divergir da típica escola parisiense. Em crônica sobre a Semana de Arte Moderna, escrita em 1952, trinta anos após a feitura do quadro, a pintora comenta realizar academias de fatura “impressionista” na escola de Rénard (“Émile Renard, inteligente e sensível, via com bons olhos minhas academias de tendência impressionista que, naquele meio francamente acadêmico, pareciam avançadas demais. É que eu levara àquele ambiente as lições do professor Elpons, de São Paulo, cujo ?atelier’ frequentara pouco antes de minha partida para a Europa”. cf. “A propósito da Semana” in: AMARAL, Aracy (org.). Tarsila cronista. São Paulo: Edusp, 2001, pp.216-218. É impossível dar o local de feitura correto da pintura por essa citação, transcorridos tantos anos de sua execução. Mas é interessante notar que para a pintora, o meio francês também era uma ocasião de maturação das experiências tidas no Brasil, de certa maneira sua confirmação.
[3] Sobre Alexandrino, assim dirá Tarsila, em depoimento de 1971: “Ele era pintor dos antigos. Esteve 20 anos na França e conhecia a pintura clássica, a pintura francesa daquele tempo. Depois que voltou a São Paulo comecei a tomar lições com ele. Era muito exigente – me fez muito bem o seu método [?] Ele me fez pegar carvão e papel e fazer riscos, riscos para firmar a mão”. Cf. “Cronologia” in: SALZSTEIN, Sonia (org.). Tarsila anos 20. Catálogo da Exposição, Galeria de Arte do Sesi, São Paulo, 29 de setembro a 30 de novembro de 1997. São Paulo: Página Viva, 1997, p. 115. Ver também a crônica “Pedro Alexandrino”, 17.11.36, in: AMARAL, Aracy (org.). Tarsila cronista. São Paulo: Edusp, 2001, pp. 103-106.
[4] Contraste simultâneo é o nome dado ao efeito que as cores provocam umas sobre as outras, especialmente as cores complementares, que se exaltam mutuamente, mas também cores frias/quentes, ou cores que ganham reflexos daquelas complementares que estão nas suas proximidades. A descrição desses fenômenos foi feita pelo químico Michel-Eugène Chevreul, em 1839, no livro De la loi du contraste simultané des couleurs. Os princípios de contraste simultâneo eram empiricamente explorados pelos pintores impressionistas. Ver Meyer Schapiro, especialmente “Impressionismo e Ciência” in: Impressionismo: reflexões e percepções. São Paulo: Cosac & Naify, 2002.
[5] Talvez o mais impressionante comentário acerca da cor na obra de Tarsila do Amaral seja o curto ensaio escrito por Haroldo de Campos “Tarsila: uma pintura estrutural”, publicado no catálogo Tarsila – 50 anos de pintura e republicado em Tarsila anos 20, op.cit., pp. 111-112. Ele dá ensejo para pensar a cor na pintura da Tarsila “madura” como elemento da forma, e não um elemento de conteúdo, embora tendamos a achar que haja um elemento de contradição entre cor e linha que termina por tender para este último elemento, de certa forma enfraquecendo as potencialidades “decorativas” da cor, no sentido que havia conquistado Matisse, criando isso que estamos chamando, na falta de melhor nome, de aspecto desencarnado de suas figuras. Em Matisse, o decorativismo das figuras, sobretudo da disposição ordenada das manchas de cor, nunca as reduz a formas desencarnadas. Ao contrário, sua capacidade de preencher e sustentar a tela, nos melhores quadros, é sempre evidente, num entrelaçamento harmônico com a linha. Em Tarsila, elas parecem sucumbir a uma dinâmica da linha (e talvez do modelado, que insiste em suavizar aquilo que não poderia ser suave) que as reduz a elementos secundários da dinâmica compositiva. (Creio que não chegaria a essas conclusões sem as aulas e os comentários de Rodrigo Naves acerca e Matisse e Tarsila do Amaral, em diversas ocasiões que não podem ser resumidas aqui. Os equívocos eventuais da formulação, entretanto, são de minha responsabilidade).
[6] Para a necessidade de se repensar uma continuidade dos problemas da arte brasileira “pré-moderna” e moderna, remeto o leitor aos textos de Tadeu Chiarelli, especialmente os artigos: “De Anita à Academia: para repensar a história da arte no Brasil”, Revista Novos Estudos CEBRAP, n. 88, 2010, e “Tropical, de Anita Malfatti”, Revista Novos Estudos CEBRAP, n. 80, 2008.