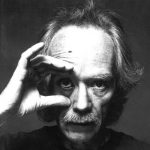“Tem alguma coisa neles que morre para sempre assim que a gente encosta”, diz Cláudio Villas Bôas (João Miguel) a certa altura de Xingu, referindo-se aos índios de um modo geral. Essa constatação está no centro do belo filme de Cao Hamburger. É o que lhe dá sentido, convertendo em tragédia o que poderia, nas mãos de um cineasta menos íntegro, ser filmado como um épico.
Não é um filme do qual os espectadores saiam dizendo que “a fotografia é linda” ou que “os atores estão formidáveis”, embora as duas coisas sejam verdadeiras. É que em Xingu nenhum valor de produção se destaca “em si”. Tudo está a serviço da consistência e da limpidez da narrativa.
Do tamanho da vida
Como num filme de John Ford ou de Howard Hawks, o que vale é o que se mostra: o homem em interação com o meio físico e com os outros homens, revelando neste embate seus impulsos mais profundos – coragem, ambição, vaidade, medo.
Talvez o retrato dos irmãos Orlando (Felipe Camargo), Claudio e Leonardo (Caio Blat) Villas Bôas não seja exato, talvez haja nele uma inevitável dose de hagiografia, mas, que diabo, os sujeitos foram mesmo extraordinários. E o filme não os isenta de fraquezas e contradições. Eles não são “maiores que a vida”, como tantos heróis hollywoodianos, mas do tamanho dela. Engravidam índias, fazem concessões aos poderosos, impõem migrações forçadas a tribos inteiras, brigam entre si.
Aqui, o diretor Cao Hamburger e o produtor Fernando Meirelles falam sobre Xingu:
A referência a Ford e Hawks, feita acima, não foi casual. Os dois foram não apenas expoentes do cinema narrativo clássico – do qual Xingu é tributário -, mas também do western, o gênero americano por excelência, que transfigurou a sangrenta e predatória conquista do oeste numa epopeia triunfante. Neste aspecto, o filme de Cao Hamburger é o seu oposto simétrico.
Há, na primeira expedição dos irmãos, um momento comovente: o primeiro contato, se não me engano com os Kalapalo, numa praia de rio. A cena, filmada de modo singelo, transmite a genuína emoção e alegria da descoberta recíproca, e os momentos seguintes são de uma harmonia utópica que ecoa as lindas imagens do encontro entre brancos e nativos no clássico O descobrimento do Brasil (1937), de Humberto Mauro. Mas a euforia logo se desfaz, com o primeiro surto de gripe na tribo.
Em Xingu, assim como em outros filmes brasileiros recentes – eu citaria o genial Serras da desordem (Andrea Tonacci, 2006) e o ótimo Terra Vermelha (Marco Bechis, 2008) -, o contato entre brancos e índios é um evento desastroso, uma ferida que não cicatriza. Nessa visão autocrítica, o homem dito civilizado contamina e destrói tudo aquilo em que toca – povos, culturas, rios, matas.
Potencial de destruição
Apesar de terminar exaltando a grande obra dos Villas Bôas, o Parque Nacional do Xingu, o filme contém em seu cerne – o olhar perplexo de Cláudio – a dolorosa consciência do potencial de dor e destruição contido em sua utopia, que era também a de Darcy Ribeiro, Noel Nutels e tantos outros: a utopia da convivência pacífica entre povos e culturas diferentes, em harmonia com a natureza.
Para quem se interessa pela saga dos irmãos, a Companhia das Letras acabou de relançar o volumoso A marcha para o oeste, de Orlando e Cláudio, que narra em detalhes a Expedição Roncador-Xingu, nos anos 40.
Para encerrar, um breve e delicioso depoimento do verdadeiro Orlando Villas Bôas.