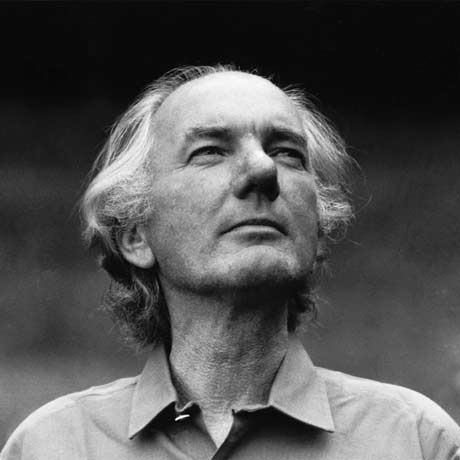Li outro dia, no blog do The New York Times, o seguinte comentário de um jovem escritor americano: “Eu abandono um livro assim que percebo que o autor concorda com o niilismo do protagonista. Se você acha que o mundo é um esgoto, que a vida não faz sentido, pra quê escrever um romance que, segundo a sua própria filosofia, não tem sentido? Talvez Onã, filho de Judá, pudesse entender um autor niilista escrevendo um romance niilista para confirmar o niilismo do leitor, mas eu não tenho interesse nisso”. O mesmo escritor citava Rumo ao farol, de Virginia Woolf, como exemplo de livro decepcionante.
O comentário, antes de ser uma caricatura do espírito positivo americano no qual ele de certa maneira se inspira, é um atestado de burrice. E se não pode ser tomado como representativo das ideias dos escritores americanos em geral, diz muito sobre a miséria do pensamento literário de um escritor em perfeita sintonia com o seu tempo.
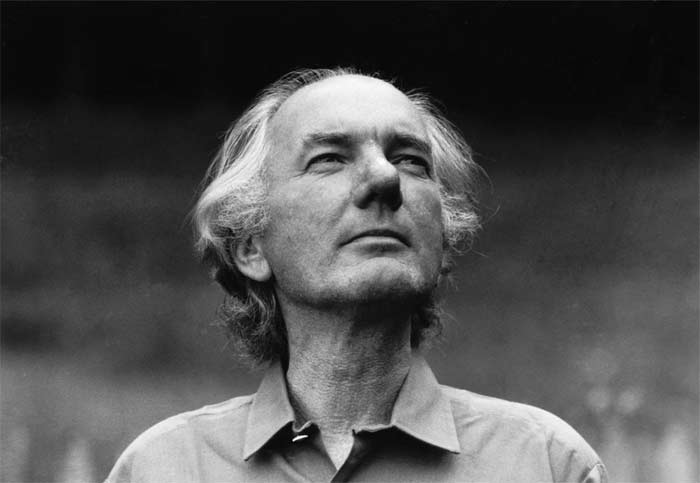
O austríaco Thomas Bernhard
Autores como Kafka, Beckett e Thomas Bernhard descreveram mundos radicalmente sombrios e sem saída e nem por isso se mataram (os protagonistas de Bernhard são quase todos suicidas). O fato de esses autores terem escrito os romances que escreveram, o fato de existirem esses romances (e, como se não bastasse, de serem romances cheios de humor, muitas vezes resultado de esforços hercúleos contra as condições mais adversas), mostra o quanto esses autores estavam agarrados à vida, a despeito de descrevê-la como um esgoto, para ficar nos termos propostos pelo jovem escritor.
Por sorte, livros como A descrição da infelicidade, coletânea de ensaios de W.G. Sebald sobre a literatura austríaca, continuam a ser publicados (no caso, em recente tradução francesa, pela Actes Sud). Os textos tratam de Stifter, Kafka, Bernhard e Peter Handke, entre outros. Para Sebald, a condição humana (falando assim, pode parecer grotesco, mas as palavras são minhas, não dele) está fundada num paradoxo que esses autores expõem e reencenam com seus romances. Ele escreve no prefácio (de 1985): “Já não é possível rebater a constatação de Kafka quando ele escreve que todas as nossas invenções ocorreram depois do início da queda. O declínio de uma natureza que continua a nos manter vivos é o corolário cada dia mais evidente disso. Mas a melancolia, ou melhor, a reflexão que fazemos sobre esse infortúnio, nada tem a ver com a aspiração à morte. Ela é uma forma de resistência”.
Parece tão óbvio e cristalino, que a própria discussão sobre o comentário do jovem autor americano perde o sentido. O problema é que esse comentário também expressa um lugar-comum cada vez mais difundido por uma indústria editorial sedenta de agradar, de proporcionar prazer ao leitor, de não decepcioná-lo com livros como… Rumo ao farol, de Virginia Woolf. O paradoxo se manifesta mais uma vez, de outra forma: como será possível alcançar uma reflexão de verdade se o princípio é agradar sempre e se um consenso está sendo construído em torno de uma literatura que tem por objetivo não decepcionar o leitor? A menos que literatura e reflexão sejam coisas distintas e excludentes.
A leitura que Sebald faz desses autores “niilistas” – e da criação literária em geral, como decorrência de um paradoxo originário – já está determinada, em 1985, por uma obsessão do escritor que vai voltar com muita ênfase, dez anos depois, em Os anéis de Saturno e que diz respeito à “tendência entrópica de todos os sistemas naturais”. Em relação ao homem, isso significa, por exemplo, que a descoberta do fogo (e a consequente queima de combustíveis fósseis) se por um lado garante a vida, por outro também anuncia o seu fim, com a destruição das condições naturais de sobrevivência da espécie. O que acaba dando um sentido mais complexo e mais coletivo ao tema do suicídio. O que o jovem autor americano chama de “niilismo” nada mais é do que uma forma de consciência. É desse paradoxo que fala a literatura.
Sebald mostra como, em O castelo, de Kafka, vida e morte são inseparáveis, uma é alegoria da outra. A visão infantil que o jovem escritor americano tem da literatura e da vida, entretanto, não lhe permite compreender o quanto os opostos se assemelham. Essa “visão” vem se tornando cada vez mais hegemônica e normativa, por pragmatismo e oportunismo mercadológico, num esforço de fazer a literatura virar cultura de massa. Mas por que, afinal, contentar-se com uma literatura cujo tão incensado realismo (um dos pré-requisitos para um alcance mais abrangente), exaltação do bem voluntarioso, das virtudes humanas e das melhores intenções, é também um exercício de cegueira? Simples: “O sono é irmão da morte; é uma velha história”, escreve Sebald. “Kafka não cessa de dizer do sono que ele é uma fraqueza constitutiva, mas também moral, o reflexo de se fazer de morto em uma espécie que, tomada pelo pânico, assim como a maioria dos outros animais, fecha os olhos na escuridão.”