Para marcar os 50 anos do manifesto Estética da fome, o IMS-RJ promove a mostra Uma fome de 50 anos no dia 31 de janeiro, apresentando dois filmes de Glauber Rocha: Deus e o diabo na terra do sol, às 16h, e Terra em transe, às 18h.
 Cena de Deus e o diabo na terra do sol, que estreou em junho de 1964
Cena de Deus e o diabo na terra do sol, que estreou em junho de 1964
Fome: nervo da sociedade (“nossa originalidade é nossa fome e nossa miséria é que esta fome, sendo sentida, não é compreendida”). Estranho surrealismo tropical (“dado formal no campo de interesse dos europeus”). Vergonha nacional (“o brasileiro não come mas tem vergonha de dizer isto”). Fonte de uma energia transformadora: “somente uma cultura da fome, minando suas próprias estruturas, pode superar-se qualitativamente”.
Em Gênova, no congresso Terzo Mondo e Comunità Mondiale, num manifesto escrito num avião (“em janeiro de 1965 voei Los Angeles Milão escrevendo a tese Estétyka da fome”, conta em Riverão Sussuarana, Editora Record, 1978, Rio de Janeiro, página 10), Glauber Rocha juntou a fome e a vontade de comer numa espécie de contracampo do Manifesto Antropófago que Oswald de Andrade escreveu no ano 374 da deglutição do Bispo Sardinha (Tupi or not tupi that is the question. Só a antropofagia nos une. Absorção do inimigo sacro. Para transformá-lo em totem): só a fome nos une. Socialmente. Economicamente. Filosoficamente. Estética da fome, define Glauber em carta a Alfredo Guevara (datada de maio de 1971, de Santiago do Chile, e publicada em Cine Cubano, número 71 / 72), “é uma ruptura com a cultura civilizada”.
Estética da fome – observa Ismail Xavier (Sertão mar, Embrafilme e editora Brasiliense, São Paulo, 1983, página 9):
“Da fome. A estética. A preposição ‘da’, ao contrário da preposição ‘sobre’, marca a diferença: a fome não se define como tema, objeto do qual se fala. Ela se instala na própria forma do dizer, na própria textura das obras. Abordar o Cinema Novo do início dos anos 1960 é trabalhar essa metáfora que permite nomear um estilo de fazer cinema. Um estilo que procura redefinir a relação do cineasta brasileiro com a carência de recursos, invertendo posições diante das exigências materiais e as convenções de linguagem próprias ao modelo industrial dominante. A carência deixa de ser obstáculo e passa a ser assumida como fator constituinte da obra, elemento que informa a sua estrutura e do qual se extrai a força da expressão, num estratagema capaz de evitar a simples constatação passiva (‘somos subdesenvolvidos’) ou o mascaramento promovido pela imitação do modelo imposto (que, ao avesso, diz de novo ‘somos subdesenvolvidos’). A estética da fome faz da fraqueza a sua força, transforma em lance de linguagem o que até então é dado técnico. Coloca em suspenso a escala de valores dada, interroga, questiona a realidade do subdesenvolvimento a partir de sua própria prática.”
Glauber começa com uma análise das “relações entre nossa cultura e a cultura civilizada”: enquanto lamentamos nossas “misérias gerais, o interlocutor estrangeiro cultiva o sabor dessa miséria, não como sintoma trágico, mas apenas como dado formal em seu campo de interesse. Nos dois casos este caráter superficial é fruto de uma ilusão que se deriva da paixão pela verdade (um dos mais estranhos mitos terminológicos infiltrados na retórica latina) que para nós é a redenção enquanto que para o estrangeiro não é mais que um simples exercício dialético”. Deste modo, nem o latino-americano “comunica sua verdadeira miséria” – mas tão somente “uma série de equívocos que não terminam nos limites da arte mas contaminam sobretudo o terreno geral do político” – nem o interlocutor estrangeiro “compreende verdadeiramente a miséria do latino“, porque para ele “os processos de criação artística do mundo subdesenvolvido só o interessam na medida em que satisfazem sua nostalgia do primitivismo”. A América Latina permanece colônia e “o que diferencia o colonialismo de ontem do atual é apenas a forma mais aprimorada do colonizador: e além dos colonizadores de fato, as formas sutis daqueles que também nos armam futuros botes. Uma libertação possível estará ainda por muito tempo em função de uma nova dependência. Este condicionamento econômico e político nos levou ao raquitismo filosófico e à impotência, que, às vezes inconsciente, às vezes não, geram no primeiro caso a esterilidade e no segundo a histeria”.
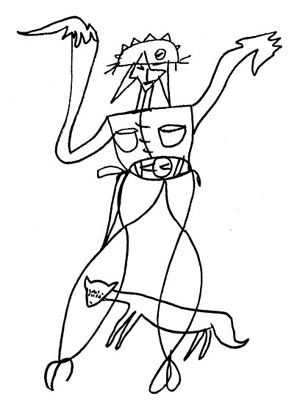
Desenho de Glauber Rocha à margem de uma folha de papel rascunho com outros riscos e anotações sobre a repercussão de Deus e o diabo na terra do sol. Sem data. Acervo IMS.
Primeira conclusão: nossa originalidade é nossa fome, que “não será curada pelos planejamentos de gabinete e que os remendos do technicolor não escondem mas agravam seus tumores”. Assim, para superar a fome, uma cultura da fome, “que se realiza na política da fome, e sofre, por isso mesmo, todas as fraquezas consequentes de sua existência”.
Segunda conclusão: a mais nobre manifestação cultural da fome é a violência. “O comportamento exato de um faminto é a violência, e a violência de um faminto não é primitivismo. Uma estética da violência antes de ser primitiva é revolucionária, eis aí o ponto inicial para que o colonizador compreenda, pelo horror, a força da cultura que ele explora. Enquanto não ergue as armas o colonizado é um escravo”.
De certo modo Glauber parece dialogar com o que Frantz Fanon diz em Os condenados da terra (editado na França em 1961 e no Brasil em 1968, em tradução de José Laurênio, Civilização Brasileira):
que “o homem colonizado liberta-se na e pela violência”; que “os povos subdesenvolvidos têm um comportamento de gente esfaimada”, que o colonizado tem “fome de qualquer coisa que o humanize”; que “a descolonização, que se propõe mudar a ordem do mundo, é, está visto, um programa de desordem absoluta”. De certo modo, Glauber retoma as palavras que emprestou a Corisco em Deus e o diabo na terra do sol: “homem nessa terra só tem validade quando pega nas armas pra mudar o destino”; e antecipa as palavras que emprestou a Paulo Martins em Terra em transe: “é preciso deixar o vagão correr solto”.
Glauber conclui dizendo que o Cinema Novo necessita processar-se, “para que nossa realidade seja mais discernível à luz de pensamentos que não estejam debilitados ou delirantes pela fome”, e que ele é “um fenômeno dos povos colonizados e não uma entidade privilegiada do Brasil: onde houver um cineasta disposto a filmar a verdade, aí haverá um germe vivo do Cinema Novo. Onde houver um cineasta disposto a enfrentar o comercialismo, a exploração, a pornografia, o tecnicismo, aí haverá um germe do Cinema Novo. Onde houver um cineasta, de qualquer idade ou de qualquer procedência, pronto a pôr seu cinema e sua profissão a serviço das causas importantes de seu tempo, aí haverá um germe do Cinema Novo. A definição é esta e por esta definição o Cinema Novo se marginaliza da indústria porque o compromisso do Cinema Industrial é com a mentira e com a exploração”.

Desenho de Glauber Rocha, sem data / acervo IMS.
Uma proposta radical – assinala Geraldo Sarno (Glauber Rocha e o cinema latino-americano, Riofilme e Escola de Comunicação da UFRJ. Rio de Janeiro, 1995, página 42):
A primeira parte do texto está dedicada a identificar a relação de caráter colonial que nos liga ao mundo europeu: entre a impotência do colonizado e o paternalismo humanitarista do colonizador é impossível estabelecer-se um diálogo lúcido, uma compreensão (…) Com esta afirmação encerra a crítica de nossa situação colonial e tem início a parte afirmativa do texto (…) Aqui o manifesto ganha sua definição: trata-se de (re)estabelecer nossa identidade frente ao colonizador, trata-se de um texto de (re)fundação, de uma afirmação do direito de expressão autônoma do ser colonizado a partir de sua primeira e radical verdade, a fome, e de uma estética, a da violência, que “antes de ser primitiva é revolucionária; eis aí o ponto inicial para que o colonizador compreenda a existência do colonizado (…) A radicalidade da proposta, seu caráter de fundação, que estabelece um novo ponto de partida, clarifica-se quando, no penúltimo e isolado parágrafo, rejeita qualquer relação de maior significação com a arte do colonizador: “Não temos por isto maiores pontos de contato com o cinema mundial!”.
Estética da fome foi apresentado em Gênova, janeiro de 1965, na Mesa Redonda realizada durante o congresso Terzo Mondo e Comunità Mondialepor ocasião da retrospectiva realizada na Rassegna del Cinema Latino Americano organizada pelo Columbianum. Foi publicado em italiano, com o título CinemaNovoe Cinema Mondiale,no livro Terzo Mondo e Comunitá Mondiale, testi delle relazioni preséntate e lette al l di Genova, Editore Marzorati, Milano, 1967, página 409), em versão mais curta do que a retrabalhada por Glauber para publicação no Brasil (Revista Civilização Brasileira, nº 3, Rio de Janeiro, julho de 1965, e em Revolução do Cinema Novo, Editora Alhambra e Embrafilme, Rio de Janeiro, 1981, páginas 28 a 31).
O manifesto, de certo modo, retoma ideias esboçadas em O processo do cinema (ensaio publicado no Suplemento Dominical do Jornal do Brasil, em 6 de maio de 1961):
“e, por isto, não podemos nem atingir o clímax que possibilita a frustração como resultado orgânico. A nossa frustração é primária, superficial. Ela está mais em conseqüência da anterior ambição econômica e social. Não é mentira se dissermos que o cineasta nacional é um homem sempre a caminho da inutilidade. A sua luta diária com os subsistemas de produção toma o tempo todo. Ele abandona empregos pela loteria. Não resta um minuto para ler este livro ou mesmo ver aquele filme. Vai se estiolando culturalmente. Descamba na maioria das vezes para uma posição de esquerda ou então se converte num antinacionalista extremamente reacionário, acusando, inclusive, até a paisagem de ser responsável por seus fracassos. Estes não possuem a coragem de dar uma olhada no espelho e ver que o asfalto das metrópoles é um pseudodesenvolvimento e que, no fundo, somos o que mais ou menos o europeu pensa: índios de gravata e paletó. É agora, então, que humildemente pergunto: não poderíamos nós, pobres cineastas brasileiros, expurgar os pecados de nossas ambições? Não poderíamos voltar àquela antiga condição de artesão obscuro e procurar, com nossas miseráveis câmaras e os poucos metros de filme de que dispomos, aquela escrita misteriosa e fascinante do verdadeiro cinema que permanece esquecido? Não saberia mesmo dizer que cinema é este, que verdade é esta. Esta proposta, que não tem intenções de ser manifesto, e talvez seja mesmo uma pública interrogação pessoal, poderá parecer romântica e atémesmo imbecil. Creio, no entanto, que o cinema só será quando o cineasta se reduzir à condição de poeta e, purificado, exercer o seu ofício com a seriedade e o sacrifício”.
 Cena de Terra em transe, de 1967
Cena de Terra em transe, de 1967
O manifesto, ainda, antecipa observações feitas em O Cinema Novo e a aventura da criação (Visão, São Paulo, 2 de fevereiro de 1968): “Um novo cinema, tecnicamente imperfeito, dramaticamente dissonante, poeticamente revoltado, sociologicamente impreciso como a própria sociologia brasileira oficial, politicamente agressivo e inseguro como as próprias vanguardas políticas brasileiras, violento e triste, muito mais triste que violento, como muito mais triste que alegre é o carnaval. NOVO aqui não quer dizer PERFEITO pois o conceito de perfeição foi herdado de culturas colonizadoras que fixaram um conceito de perfeição segundo os interesses de um IDEAL político. Os artistas que trabalhavam para os príncipes faziam uma arte HARMÔNICA segundo a qual a terra era plana e todos os que estivessem do outro lado da fronteira eram bárbaros. A verdadeira arte moderna, aquela que é ética/esteticamente revolucionária, se opõe pela linguagem, a uma linguagem dominadora”.
A observação é de Ismail Xavier (no citado Sertão Mar, páginas 163 e 164):
“A Estética da fome expressa, efetivamente, o questionamento à universalidade absoluta de um conceito de cinema engendrado nos centros de decisão internacional. Na verdade, manifesta, na sua particularidade, uma problemática bem mais ampla, não exclusivamente brasileira, marcando a participação ativa, a intervenção que se torna via inspiradora, do Cinema Novo no debate internacional no nível da produção e da própria linguagem.
No plano interno, pela sintonia com os debates mais amplos que lhe foram contemporâneos, o Cinema Novo se marcou como instância de atualização do cinema brasileiro — abertura da brecha pela qual fluíram as experiências e pesquisas mais diversificadas dos cineastas independentes, alinhados ou em oposição (a partir de 1968) ao grupo liderado por Glauber (daí a analogia freqüente com o modernismo de 1922, usada para selar essa tarefa comum de ‘atualizar’ a produção cultural).
Na sua resposta às condições de subdesenvolvimento da produção, às exigências do engajamento político e às questões da ‘cultura popular’, os primeiros filmes de Glauber compõem estruturas complexas e soluções originais que aprofundam interrogações próprias a um contexto nacional específico sem reduzir seu alcance a essa esfera particular. Seu impacto e significação internacionais não se reduzem a lances de entusiasmo de certa crítica com sede de Terceiro Mundo, nem a golpes de teatro de uma política de festivais. Há um solo consistente que dá força a esses filmes como fator de criação e referência crítica para os novos cinemas que emergiram decisivamente a partir dos anos 1960 fora dos grandes centros industriais. Esse solo está na textura dos filmes, fortes porque expressão tensa, desafiadora, de um projeto de transformação e seus problemas, limites, utopias, contradições.”









