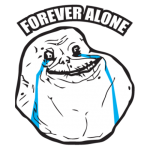O fim do papo
Ao longo da História, o direito de se expressar em público sempre foi uma oportunidade para poucos. Primeiramente, devido às restrições dos lugares de fala, o que já foi determinado por fatores como gênero, classe, posição, sobrenome, idade, cor, geografia. Algumas dessas restrições ainda existem, mas foram bastante atenuadas com a internet, e essas oportunidades, apesar de continuarem limitadas, estão mais abertas. Porém até um falante em posição bastante favorável – como hoje seria, digamos, o Papa Francisco ou, num exemplo secular, George Steiner –, precisava respeitar certa ordem social. Em suma, ninguém nunca poderia dizer tudo o que quisesse desbragadamente – mesmo numa mesa de bar a conversa seguia certa hierarquia informal, ainda que soasse caótica.
Em segundo lugar, devido às restrições inerentes ao próprio pensamento. Os fatores mencionados acima só criam a oportunidade de fala em conjunção com a capacidade de articulação verbal, o domínio da construção discursiva, e até do desprendimento e da compreensão de idiomas (tudo isso resumível numa subjetiva “respeitabilidade” ou, mais ainda, em cada sotaque específico). Sempre foi bem normal que, mesmo possuindo a oportunidade, alguém não encontrasse as palavras no momento de rebater o comentário ácido.
O abade André Morellet afirma serem as metas da conversação divertir e melhorar o próximo, mas quem alcança notoriedade são aqueles conversadores geniais, implacáveis, que você jamais enfrentaria num debate: Sócrates, Cícero, Voltaire, Samuel Johnson, Oscar Wilde, Dorothy Parker, Oswald de Andrade, Gore Vidal, Fran Lebowitz. Numa anedota atribuída a De Quincey, Borges conta que um homem numa discussão, após receber uma taça de vinho na cara, replicou: “Isto, senhor, é uma digressão. Espero seu argumento”. Como responder à altura?
Aos conversadores comuns sobravam a raiva ou a vergonha. Às vezes, a resposta perfeita lhes chegava como que por inspiração – quando o interlocutor não estava mais presente. Diziam os franceses que ela viria sempre após as despedidas, no meio da escada, quando não poderia ser dita, e daí surgiu a expressão esprit d’escalier, o espírito da escada, uma entidade que nos assopra tarde demais a réplica irreparável.
Fugit irrevocabile scriptum
No Zeitgeist de uma era marcada por elevadores e conexão ilimitada não existe espaço para o esprit d’escalier. Assim como nos é possível enviar a resposta a qualquer hora do dia, podemos adiá-la conforme nossa conveniência. E tendo sido burilada com tanto esmero, ninguém guarda para si a sentença ferina. Isso gera, quando tanto, uma inversão do esprit d’escalier: o arrependimento pelo golpe efetivado, pelo comentário que agravou a peleja – a idealização tardia de uma linha temporal em que a pequena crueldade não tenha sido enviada.
Os antigos, quando a intriga precisava ser produzida diretamente no ouvido, refletiram bastante sobre a força da palavra. O poeta latino Horácio vaticinou que “a voz expressa não pode voltar” [Nescit vox missa reverti]. O inglês Edmund Spenser o parafraseou e disse que a fala, após pronunciada, era irrevogável [Fugit irrevocabile verbum]. De acordo com eles, é impossível engolir de volta as palavras assopradas no ar. Já num célebre ditado romano, lê-se que “as palavras faladas voam, as escritas permanecem” [Verba volant scripta manent]. Ainda que irrevogáveis, as palavras só eram pronunciadas uma vez, antes de se dissolverem como fumaça. Mas agora, assim como a fala pode ser compartilhada [verba manent], não podemos esconder entre os dedos o que digitamos na rede. A palavra escrita é irrevogável.
Pior ainda: em nosso mundo silencioso, das intrigas feitas à distância, quanto mais se luta para que uma informação desapareça, mais ela se propaga. Apesar de ilustrar bem a Tese da Perversidade de Albert O. Hirschman, essa parece ser uma condição incontornável de nossos tempos. Há uma força inerente que nos impulsiona a abrir o texto proibido, o assunto alheio, e uma atração mimética nos impele a compartilhá-lo. O ofendido não se esquecerá. O comentário desagradável de seu desafeto está, literalmente, na mão de todos. Tentar barrá-lo é fortalecê-lo.
“Esqueçam o que escrevi”
Se o clique produz monstros, mesmo quando imprimir suas frases era um processo longo e difícil, oportunidade para pouquíssimos, os escritores já renegavam suas palavras. O roteirista de quadrinhos Alan Moore pediu que seu nome fosse removido de todos os seus projetos com a DC Comics, que teria agido de “má fé” para com ele. O romancista Martin Amis não lista em sua obra o livro Invasion of the Space Invaders, sobre videogames, por achá-lo embaraçoso; tampouco Don DeLillo assume a paternidade de Amazons, romance sobre uma jogadora de hóquei publicado sob o pseudônimo Cleo Birdwell. Jonathan Littell, após receber o prêmio Goncourt por As benevolentes em 2006, ressaltou a ruindade de seu único romance anterior, um cyberpunk escrito na juventude chamado Bad Voltage.
A literatura criada por adolescentes raramente resiste. Com exceção da França, claro, a nação da resistência. Não é de se estranhar o uso de uma expressão francesa, enfant terrible, para designar autores jovens e ousados como Rimbaud, Radiguet e Françoise Sagan. Mas o normal é que depois de um tempo os textos precoces sejam renegados.
Por conterem elogios a quem se mostrou traidor, por defenderem hipóteses que se provaram errôneas, por causa de um cacófato horrível, situação do serial killer da crônica “Sebo”, de Luis Fernando Verissimo, que assassina os 17 leitores de seu romance mal revisado.
Por vergonha, por seus autores mudarem radicalmente de opinião, por apurarem seu julgamento estético. Borges proibiu a republicação de seus primeiros livros de poemas, e Eduardo Galeano afirmou que não leria novamente seu livro mais famoso, As veias abertas da América Latina. Virgílio e Franz Kafka não conseguiram convencer seus executores a destruírem suas obras. Já o russo Nikolai Gógol é que foi convencido a tocar fogo no segundo volume de Almas mortas. O poeta Gerardo de Mello Mourão se juntou com amigos e fizeram uma pira com seus poemas da juventude: “Ou Dante ou nada”, explicou.
Por motivos éticos, pois suas obras acabaram se revelando perigosas, e talvez tenham influenciado atos de violência. O norte-americano William Powell jamais conseguiu impedir a circulação do infame The Anarchist Cookbook, um virulento manual de desobediência civil que teria auxiliado diversos terroristas e assassinos. Destino diferente teve Rage, romance obscuro sobre massacre em escolas, cujo autor, Stephen King, retirou de catálogo após ele ter sido encontrado no armário de jovens que mataram seus colegas. Já Anthony Burgess nada conseguiu fazer contra a popularidade de Laranja mecânica que, protagonizada por um sociopata, se tornou uma das obras mais icônicas e influentes do século XX.

Cena do filme de Stanley Kubrick baseado no romance Laranja Mecânica, de Anthony Burgess
A hermenêutica dos assassinos
É conhecida a história do retiro de Burgess (1917-1993). Diagnosticado com um tumor cerebral em 1959, ele passou a escrever freneticamente para garantir a segurança financeira de sua esposa Lynne. Entre estes escritos estava a famosa distopia Laranja mecânica (1962), a história de uma gangue narrada por seu líder Alex DeLarge. O diagnóstico do tumor estava errado, e Burgess ainda viveria mais de trinta anos, o bastante para ver sua obra adaptada para o cinema por Stanley Kubrick, em 1971. O filme popularizou o romance de modo a ter ofuscado tudo o mais que Burgess produziu durante sua prolífica carreira. Autor ambicioso, apesar de ter feito biografias, sinfonias, roteiros, e trinta e dois romances, muitos deles considerados melhores pelos críticos e por ele próprio, até hoje a fama do inglês se deve a Laranja mecânica.
“O livro pelo qual sou mais conhecido, ou o único pelo qual sou conhecido, é um romance que estou preparado para repudiar”, escreveu Burgess em 1985. “Ele ficou conhecido como matéria-prima para um filme que parecia glorificar o sexo e a violência.” Após o lançamento do filme, vários crimes foram ligados a ele. Assim, em 1974, Kubrick proibiu que fosse exibido na Inglaterra até sua morte, que aconteceria em 1999. “O filme facilitou que os leitores entendessem mal o assunto do livro, um mal-entendido que me perseguirá até a morte”.
O romance, inspirado num evento real em que a esposa do autor foi espancada e estuprada por soldados americanos, tem como um dos pilares, de acordo com o escritor Irvine Welsh, “um senso profundo de pecado” herdado da criação católica de Burgess. Porém a edição americana, na qual o filme foi baseado, foi lançada sem o capítulo final, em que Alex se arrepende. E, no final das contas, um livro que é exatamente sobre escolher não fazer o mal, como uma opção moral, não uma induzida por elementos externos, muitas vezes é lido como um manifesto à violência gratuita.
Não foi a primeira vez. A violência sempre foi justificada com argumentos os mais espalhafatosos, e os livros, da Bíblia a O apanhador no campo de centeio, muitas vezes são usados como validação para ideias terríveis. Esta hermenêutica particular serve a assassinos, terroristas, líderes políticos e fanáticos religiosos, gente incapaz de compreender o que não atenda a seus propósitos. Quaisquer dados ou ideias que não lhes forem convenientes serão simplesmente ignorados, como se uma muralha os guardasse contra qualquer foco rebelde de sensatez. E por mais que não cometamos crimes, a vida na internet nos mostrou que nosso comportamento é muito parecido. Nossas personalidades virtuais são regidas pela mesma lógica.
#naovaiterculpa
No primeiro parágrafo afirmei que antes, mesmo numa posição favorável, ninguém nunca poderia dizer desbragadamente o que quisesse. Na internet, pode, porque seus comentários serão conduzidos para quem o aprecie. Quando alguém percebe que disse uma besteira, sua reação seria se envergonhar, certo? Não quando encontra quem a endosse. E apesar de os donos das redes sociais propagarem que conectam as pessoas e montam comunidades, na verdade eles criam bolhas; seus algoritmos unem quem pensa de modo semelhante, a pessoa fala para seus pares. Aquela oportunidade de se expressar em público na verdade é uma ilusão, pois não há opiniões contrastantes. O contraste, no mundo virtual, se resume a uma batalha de gritos.
Em meio a todos os absurdos proferidos pelos neonazistas de Charleston, um deles, ainda que involuntariamente, afirma algo revelador. “Estamos saindo da internet de modo grandioso”, conta para a repórter. “As pessoas perceberam que não são indivíduos isolados, são parte de um todo maior, porque estivemos espalhando nossos memes, nos organizando na internet, e agora elas estão saindo para as ruas.” Como disse Umberto Eco, a estupidez se organizou. O vídeo assusta porque de modo geral aqueles homens não falam com cinismo. Estão convictos de serem eles os injustiçados, e pior, acreditam agir corretamente. Mesmo que algum deles porventura abra os olhos, não há mais como retirar o que disse. Os prints foram salvos: suas palavras são irrevogáveis. Uma legião brada o seu discurso, outra o ataca. Será impossível esquecer. A internet pôs fim à dúvida e ao arrependimento. Esta batalha acabou. Os pedidos de desculpas tombaram ao lado do esprit d’escalier.