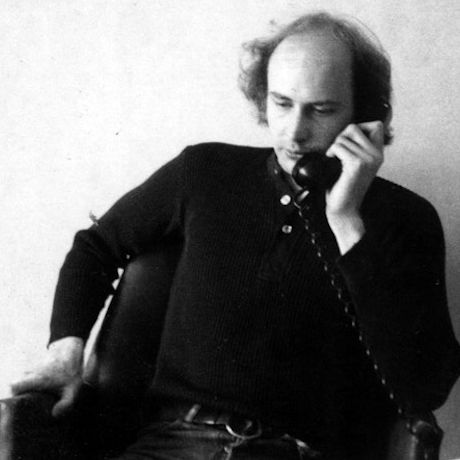Em 1980, o historiador da arte Douglas Crimp publicou um ensaio na revista October intitulado “On the Museum’s Ruins”, que acabou virando título de uma coletânea publicada pela MIT Press em 1993. Sobre as Ruínas do Museu (2005) chegou tarde por aqui, e seu relançamento extemporâneo em 2015 aproxima a trajetória do ensaio das ruínas nada metafóricas do nosso Museu Nacional. O ensaio de Crimp versava sobre a derrocada de certa concepção que se fazia do museu. Escrito na primeira onda de argumentos sobre pós-modernidade, questionava a autoridade das instituições para arbitrar padrões de gosto e impor canônes artísticos. 38 anos mais tarde, o mundo mudou completamente, e o paradigma contra qual o crítico se insurgia é quase irreconhecível. De guardiães das tradições, os museus viraram lugares de revisão histórica, confronto de ideias e fervilhamento cultural.
Muito ao contrário de aquilatar certezas, os melhores museus hoje cortejam ativamente o questionamento e a contestação. Antes queridos dos mais tradicionalistas, viraram alvo de fúrias conservadoras. Hoje em dia, quando o fundamentalismo religioso busca ativamente destruir toda cultura e memória que não aprova, a defesa do patrimônio histórico se impõe mais do que nunca como imperativo civilizatório. Diante dos crimes praticados por Talibãs, Estado Islâmico, Boko Haram, o termo barbárie, que andava um tanto démodé, recuperou o vigor. Também temos nossos pequenos talibãs no Brasil, embora por aqui suas barbaridades costumem ser praticadas de modo oblíquo, perverso, rasteiro. Nossos vândalos do pau oco não portam armas automáticas e explosivos, talvez porque não precisem.
A prova de fogo dos museus brasileiros
Se o mofo foi espanado no plano das ideias, o mesmo não pode ser dito sobre a realidade cotidiana dos museus no Brasil. Com honrosas exceções, continuamos a nos debater com poeira, cupins, goteiras, roubos e incêndios. O Museu Nacional é a mais recente vítima de um histórico de destruição do patrimônio cultural pelo fogo cujos marcos incluem o Museu da Língua Portuguesa (2015), o Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo (2014), o Memorial da América Latina (2013), a coleção particular de Jean Boghici (2012), o Instituto Butantã (2010) e parte do acervo de Hélio Oiticica (2009). Mais distante, porém inesquecível, foi a devastação do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, em 1978. O problema é ainda mais antigo. O Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro sofreu nada menos do que três incêndios ao longo de sua existência, que consumiram a quase totalidade do arquivo da casa. Por simples falta de fontes e documentos, uma das instituições mais importantes da história artística brasileira sequer costuma ser lembrada, a não ser por especialistas. Seu legado foi apagado da memória coletiva, ao ponto que é quase como se nunca tivesse existido.
Fala-se muito que o Brasil é um país sem memória, e essa frase lamenta geralmente a rapidez com que grandes nomes caem no esquecimento. Parafraseando o popular dito de Darcy Ribeiro sobre educação, pode-se afirmar que a falta de memória no Brasil não é crise; é projeto. Verbas minguadas, negligência dos poderes constituídos, indiferença da sociedade civil, descuido criminoso da parte de alguns diretores. Os motivos por trás da fragilidade institucional são muitos, e um dos mais nefastos é a velha prática de lotear cargos e entregá-los a pessoas sem o devido preparo. Nesses casos, a última linha de resistência são os funcionários: arquivistas, bibliotecários, curadores, museólogos, restauradores que se dedicam ao trabalho incansável e geralmente mal remunerado de preservar para gerações futuras o que é de todos nós.

Incêndio do Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo (2015)
A criação do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), em 2009, representou um marco em direção à maior estabilidade e planejamento nas instituições museológicas. Embora o orçamento continue baixo – coisa de 137 milhões de reais efetivamente pagos em 2017, para administrar trinta museus – esse valor é elevado em relação ao patamar em torno de 20 milhões que vigia no início dos anos 2000. Os investimentos da União no setor museal subiram quase dez vezes entre 2001 e 2011, quando chegaram a superar a casa dos 200 milhões por ano, mas voltaram a recuar desde 2014. Nesses tempos de polarização ideológica, vale ressaltar que o esforço para profissionalizar os museus no Brasil não ocorreu unicamente por investimento público direto. A Pinacoteca do Estado, um dos melhores museus do Brasil hoje, vem sendo gerida desde 2006 por organização social criada para essa finalidade. A questão é menos de qual modelo de gestão é escolhido e mais da seriedade e continuidade com que as ações são implementadas.
Com os cortes maciços de verbas e a instabilidade política dos três últimos anos, a situação periga reverter à bagunça anterior. A recente decisão de extinguir o Ibram por medida provisória representa um retrocesso completo e ameaça a integridade do patrimônio histórico e cultural da Nação. Adotada no apagar das luzes de um governo profundamente impopular, contra a vontade dos profissionais da área, ela põe em risco o trabalho de consolidação realizado ao longo desse jovem século 21. Impressiona a atração fatal de políticos brasileiros pela tática da terra arrasada: arruinar o que já existe para que quem segue seja obrigado a recomeçar da estaca zero. O oportunismo do decreto se torna ainda mais desprezível pelo fato de ter sido apresentado ao público sob pretexto de possibilitar a reconstrução do Museu Nacional, o qual sequer tem relação com o Ibram. A votação próxima do relatório sobre a MP 850/2018 precisa ser acompanhada com máxima atenção por todos que se preocupam com o destino dos museus brasileiros.
Fortalecer instituições, redes e comunidades
Uma vez destruídos ou dilapidados, acervos não podem ser reconstituídos, mas exposições e ações educativas podem, e devem, ser reconceituadas. A natureza dos museus, arquivos e bibliotecas é a de preservar vestígios e artefatos para que através deles, em um processo contínuo e dinâmico, a sociedade possa construir sua memória coletiva. Nos anos 1930, o historiador Carl L. Becker escreveu que História é aquilo que o presente escolhe lembrar sobre o passado. Há duas verdades nessa frase. A primeira é que a ação de lembrar é ativa: a memória precisa ser cultivada para se tornar História. A segunda é que o falseamento dos relatos históricos costuma se dar pela simples omissão de fatos incômodos. Daí a importância dos indícios materiais, fragmentos do passado que subsistem no presente. São as fontes primárias que nos permitem recuperar o esquecido e confrontar a denegação.
Na sociedade brasileira atual, ganham fôlego setores que querem abafar ideias e debates, que têm como meta a supressão da liberdade de pensar. Para atingir essa finalidade de modo definitivo, nada mais eficaz do que apagar a memória. O que esperar, a partir de janeiro, de um governo federal que já alardeou, em alto e bom som, seu descaso com relação à cultura e à diversidade cultural? O futuro presidente manifestou reiteradamente seu desdém pela História ao fazer a apologia da ditadura e contemporizar os efeitos da escravidão. Mais grave ainda, para além do discurso pessoal ignorante, alguns de seus apoiadores partem para a ação direta, invadindo escolas e museus. Os que zelam pelo patrimônio e pela cultura devem se conscientizar do tamanho dessa ameaça e se unir para resistir a um ataque que tende a se agravar. A principal arma será não o confronto aberto de ideias, mas o corte de verbas e pessoal.
Por questão de sobrevivência, os museus precisam pôr em prática ações estratégicas que os aproximem de novos públicos e ampliem suas bases de apoio na sociedade civil. No Brasil, o museu ainda costuma ser pensado como trincheira, o que paradoxalmente o torna mais vulnerável. Resguardo não é guarda. Encastelamento não é resistência. É preciso abertura para a inclusão de grupos que não se sentem previamente identificados com determinado projeto de musealização. Sem uma troca arejada entre instituições e comunidades, cada acervo tende a se tornar uma cidadela isolada, passível de ser sitiada e saqueada. Um dos motivos que levou o Museu Nacional a ser vitimado pelo descaso, durante tanto tempo, é que boa parte do seu riquíssimo acervo não era percebida como relevante para a ideia que a sociedade brasileira quer fazer de si.
Precisamos formar redes de apoio mútuo abarcando todos os atores e agentes que têm compromisso com museus, arquivos, bibliotecas. É fundamental que estas incluam público e usuários, para que não sejam desacreditadas pela acusação fácil de representarem apenas interesses corporativos. Está mais do que na hora de reforçar a velha figura da “associação de amigos”, fazendo dela um instrumento de ação política e não apenas um mecanismo de captação de recursos. A primeiríssima prioridade, o sine qua non, é manter os acervos preservados e as instituições intactas. Não há sentido em elaborar expografias inovadoras para museus que pegam fogo ou precisam ser fechados por falta de verba e manutenção. A segunda é defender funcionários e diretores de um processo de desestabilização que coloca em risco a qualidade do corpo técnico. A terceira é influir junto a patrocinadores para que priorizem o investimento em ações estruturais, nada glamurosas, em vez de apoiarem apenas o que dá visibilidade imediata.
Em vista da voga recente por museus sem acervo, montados estritamente como experiência cenográfica, cabe uma indagação. Por que os agentes que instituem museus novos no Brasil – governos, fundações, patrocinadores – sentem-se mais à vontade para montar suas exposições à margem dos resquícios concretos do que somos do que a partir deles? O confronto entre os vizinhos Museu do Amanhã e Cais do Valongo é de uma eloquência implacável. Por que interessa mais celebrar o futuro do que lembrar o passado? As respostas revelam muito sobre um país que, a cada geração, quer arrasar tudo que foi feito e começar de novo.